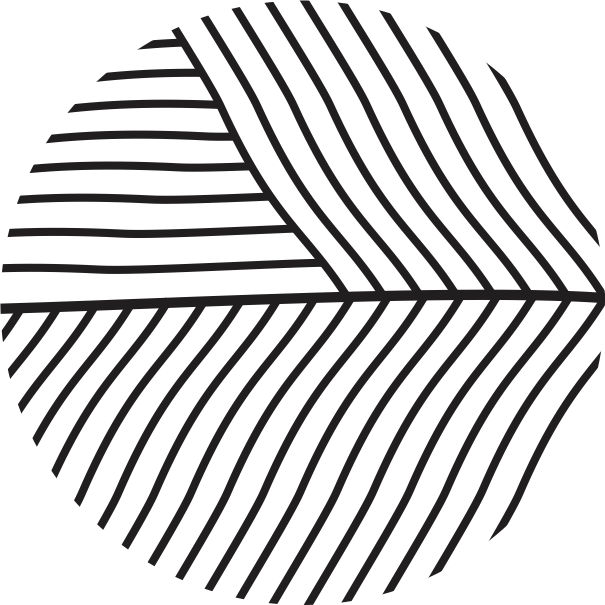Entrevista exclusiva com a Capitão-de-Corveta Marcia Braga
Pérola Abreu Pereira e Giovanna Kuele (Instituto Igarapé).
Publicado em REBRAPAZ.
Entre abril de 2018 e março de 2019, a Capitão-de-Corveta da Marinha do Brasil, Marcia Braga, dedicou-se à missão mais gratificante de sua vida até então. Ela foi a assessora de gênero (gender advisor) da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA). Além de assessorar diretamente o Comandante do Componente Militar (Force Commander) da Missão sobre temas de gênero, Marcia acumulou também a função de ponto focal para proteção de crianças (child protection focal point), o que tornou sua experiência mais rica e desafiadora, consolidando o enfoque de proteção de civis que norteou todo o seu trabalho no terreno. Finda sua missão na República Centro-Africana (RCA), Marcia assumiu nova função no Rio de Janeiro e atua como encarregada do Centro de Operações de Paz de Caráter Naval. Assim, ela continua profundamente engajada com o tema das missões de paz. Diretamente do Quartel-General das Nações Unidas em Nova York, em junho de 2019, Marcia concedeu esta entrevista exclusiva às pesquisadoras Pérola Abreu Pereira e Giovanna Kuele, do Instituto Igarapé.
Como foi sua preparação para a missão?
Não fiz curso presencial no CCOPAB (Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil) ou no CIASC (Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, da Marinha do Brasil). Todavia, a ONU organizou um curso em Entebe, Uganda, para o qual eu me preparei com conteúdo disponível online, enviado pelo então DPKO. Além disso, também preparei uma tarefa que eu teria que apresentar ao final do curso: qual seria a resposta de um batalhão de infantaria caso recebesse relatos de vítimas de CRSV (conflict-related sexual violence) na área de responsabilidade. Fiz minha apresentação no último dia, falei sobre toda a minha ideia de proteção de civis: trabalhar com proteção e prevenção. Vejo a participação feminina como uma das ferramentas para se atingir esse objetivo maior, de proteção da população e prevenção da violência. Participação como uma estratégia, mas não um objetivo em si. Também fiz cursos mandatórios online da ONU, ligados à parte de segurança, SEA (sexual exploitation and abuse) e segurança da informação, bem como estudei documentos normativos da missão, destacando-se o Mandato.
Você recebeu incentivo de seus superiores e colegas de Marinha para se voluntariar? Percebe mudança dentro da Força com relação à importância de que mais mulheres sejam desdobradas em missões de paz?
Institucionalmente, a Marinha me apoiou durante todo o processo. Individualmente, as pessoas não me incentivavam muito a ir para a África, talvez por desconhecimento de tudo que uma missão como essa agrega. Eu aprendi tanto que não dá para descrever. Aprendi outros idiomas, vi outras culturas, aprendi a exercer minha liderança em um ambiente hostil com risco real de morte. Perdi as contas dos funerais em que estive presente, de militares que morreram na missão. Conheci profundamente um outro país. Não tem como você medir esse crescimento profissional, o valor dessa experiência. É muito importante que mais mulheres sejam desdobradas, e a pressão da ONU por paridade de gênero é necessária. Vejo que o fato de eu ter ido também gera impacto positivo: gender advisor hoje é uma função mais conhecida, mais comentada.
Onde você foi desdobrada inicialmente?
Fui desdobrada em Bangui, capital da RCA, onde fica o quartel-general da MINUSCA. Durante o período inicial, em meados de abril de 2018, as coisas estavam aparentemente calmas. Contudo, logo sofremos um ataque a pedradas e pedaços de concreto, enquanto estávamos em uma viatura da ONU. Recebi alta do hospital no dia seguinte, mas não tinha como voltar para a casa em que eu estava antes por causa da restrição de movimento. Acabei indo morar com uma espanhola civil que trabalhava com proteção de civis e que me forneceu apoio fundamental para recuperação. Consegui fazer o induction training, mas apareceu um tumor no meu quadril logo em seguida, um inchaço decorrente de hemorragias internas pela batida que o carro deu durante o ataque. Tive que voltar ao hospital e fui operada. O tumor foi retirado, mas voltou outras vezes, no mesmo lugar. Da última vez, o médico sérvio disse que teria que me repatriar caso não melhorasse. Torci muito para não ter que voltar, melhorei, consegui ficar e finalmente me apresentei no QG, em 22 de maio de 2018, para iniciar o trabalho de Assessora de Gênero.
Quais era suas principais tarefas?
No início, não chegava nada na minha caixa de entrada, nenhuma denúncia. Nenhum modelo de documento, nada, nenhuma diretiva. Me instruíram a preparar plano de ação para um ano. Eu não tinha experiência. Primeira coisa que fiz, já que não tinha time, foi começar a mandar documentos para o DPO em Nova York e para os comandantes de unidade e batalhão, tudo com embasamento no mandato da missão. Para o DPO, mandei um fac-símile em junho pedindo assessores de gênero para os batalhões e focal points para os setores. Quando o plano foi aprovado pelo Force Commander, tive margem de manobra. Tudo que eu pus no plano eu pude fazer. Preparei uma diretiva e um planejamento de exercícios usando cenários. E um plano de contingência para cobrir a deficiência inicial de pessoal. Defini o tipo de informação de que eu precisava, desenhei os fluxos dessas informações e comecei todos os processos que eu achei necessários.
Quando foi definida a primeira assessora de gênero do quartel general do setor leste, fui encontrá-la, em Bria. Lá fica o maior campo de refugiados e deslocados internos da RCA, com mais de 50 mil pessoas. Eu precisava que os advisors e pontos focais obtivessem as informações de como o conflito afetava a população local, empregando a perspectiva de gênero, e aconselhassem seus comandantes sobre isso. Eles seriam o elo de conexão da força com a população local. Era importante que eles entendessem as rotinas e os papeis específicos de cada um dos grupos: homens, mulheres, meninos e meninas, porque daí vem a vulnerabilidade. Era importante implementar patrulha mista nas áreas com mais mulheres. Assim, eu preparei um treinamento e viajei por todo o país passando esse conteúdo para os novos assessores de gênero. Eu explicava como empregar a perspectiva de gênero para proteção de civis em cerca de uma hora e, em seguida, falava por mais 30 minutos sobre proteção de crianças.
Nessas visitas, eu também mantinha reuniões com os outros componentes da missão: civil e policial. Eu pedia reuniões com todo mundo, levava os assessores de gênero do respectivo setor e dos batalhões locais. Em muitos lugares, civis e militares antes não conversavam. A falta de comunicação e de troca de informações era um grande desafio em algumas áreas. Minha ideia sempre foi unir e compartilhar. Era especialmente frutífera a troca de informações com os assessores de direitos humanos, assuntos civis e proteção de crianças. Para ver a realidade local com um olhar próprio e tentar perceber as vulnerabilidades de gênero, eu também fazia patrulhas diurnas e noturnas. De volta ao QG, eu fazia relatórios para o Force Commander e preparava recomendações voltadas para proteção de civis, com foco nas questões de gênero e proteção de crianças, contextualizadas nas informações obtidas durante a visita, no Mandato, nas recomendações da ONU e nas diretivas do Quartel General da Força.
Como foi o seu contato com a população local, especialmente as mulheres?
Eu tinha reuniões com as mulheres líderes locais por todo o país. Eu chegava fardada, vindo de Bangui, e conversava com elas em francês dizendo que meu objetivo era melhorar a segurança delas. Elas eram mais comprometidas com a paz, mais preocupadas com as famílias do que os homens. Elas são responsáveis pelo provimento de suas casas. Elas tinham informações estratégicas, sobre checkpoints ilegais e presença de grupos armados, por exemplo. Compartilhavam a rotina, contando que andavam por trechos de mais de 20km para chegar a suas plantações. Todos os grupos de mulheres lá já têm uma líder. E elas convivem, todas juntas, sem problemas de conflito religioso. Cada pequena vila tinha sua líder, as pastoras de cabras tinham sua líder, as viúvas, e assim por diante. A célula civil de gender da MINUSCA já havia montado uma estrutura de rede para contato direto com essas líderes, e eu me aproveitei muito dessa estrutura.
O que elas mais demandavam?
Os principais problemas que elas me relataram: grandes distâncias que elas percorriam até suas plantações; restrições de movimento (presença de grupo armado ou checkpoint ilegal); limitações de infraestrutura, como falta de água e lenha. A grande maioria delas é analfabeta, então pediam curso de francês e outras capacitações que pudessem empoderá-las economicamente. Pediam também fundos para seus negócios.
Na sua opinião, quais são os principais entraves para atender a essas demandas?
A população muito agrícola e muito primária. Um pouco de investimento já faria muita diferença, não precisa ser um orçamento grande. Faltam projetos agrícolas. As mulheres pediam mesa e cadeira para exporem seus produtos, por exemplo. Coisas muito simples, como jardins comunitários e bombas d’água.
Você lidou com muitos casos de violência sexual?
Sim, em áreas específicas, principalmente durante a transumância, que é o período de deslocamento do gado. Os pastores (geralmente grupos vinculados à etnia Fulani) se associam a grupos armado para segurança nos trajetos, já que o gado é artigo de luxo. Esses grupos em trânsito acabavam se encontrando com mulheres em seus trajetos para plantações, ou para buscar água. A maior parte das violações acontecia em estradas, perto de arbustos e das plantações, onde ocorrem os encontros dos grupos armados e pastores com as mulheres. Em Kaga Bandoro, por exemplo, chegou a ter 100 casos de violência sexual em dois meses. Informações como essa às vezes não chegavam ao QG. Outro fator a se considerar é que estupro às vezes não é considerado tão grave quando não envolvia morte, então existe uma situação de subnotificação. As vítimas de violência sexual reportavam os casos para os militares e policias da ONU. Contudo, a confiança da população local com relação às tropas da ONU era diferente conforme a área, o que dificultava o encaminhamento das vítimas para tratamento de saúde contra doenças sexualmente transmissíveis (em até 72 horas) e apoio psicológico, quando o sentimento de impunidade ou vergonha preponderava. Daí a importância de mulheres compondo patrulhas, como uma forma de facilitar os relatos de violência sexual, por parte das mulheres locais, além de contribuir para o estreitamento dos laços entre a Força e a população.
De todos os trabalhos e projetos com os quais se engajou durante a missão, qual foi o mais gratificante?
Tive um grande aprendizado quando visitei a comunidade em Birao, na fronteira com o Sudão. Foi onde vi o maior engajamento da MINUSCA com a comunidade local. O batalhão alocado lá é da Zâmbia, e eles se envolveram em vários projetos: fizeram painel solar, bomba d’água, horta comunitária. Viraram modelo, tiveram apenas um caso de violência sexual em um ano. Esse é um caso de sucesso, inclusive com relação ao tema de solução pacífica de controvérsias. Os capacetes azuis fazem até trabalho nos hospitais e escolas, campanha de higiene, defendem a presença de meninas nas escolas. É o melhor time de engajamento feminino da MINUSCA. Eles têm uma patrulha só de mulheres, inclusive a motorista. Me receberam quando cheguei com uma guarda toda feminina, eu vibrei! Nessa comunidade, os grupos armados não veem tanto sentido em continuar o ciclo de violência, já que estão todos juntos trabalhando pelo bem da comunidade.
A partir da sua vivência em campo, se você estivesse no papel de Comandante da MINUSCA hoje, ou durante aquele tempo, o que você faria diferente?
Eu focaria em aumentar os projetos que diminuem a exposição da população às violações. Projetos que são muito simples, como instalação de painéis solares para energia e luz e hortas comunitárias, que têm um grande impacto no cotidiano das mulheres por diminuir as distâncias que precisam andar até suas plantações para obter alimento. Eu priorizaria uma maior interação com a comunidade local. Se você realmente passa a fazer parte da vida da população, entende sua rotina, seus problemas cotidianos, você consegue chegar a conclusões que podem até parecer simples ou óbvias, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo: não adianta ter patrulha só nas vias principais, se a população usa outras vias alternativas. Os projetos de rápido impacto na RCA são muito focados em ajuda humanitária, com perfil de distribuição de água e medicamentos, por exemplo. Eu priorizaria o envolvimento com a população e projetos que resultassem no aumento da proteção.
Que legado você acredita ter deixado para a missão e para a população local? Em que medida você acredita que contribuiu para que a MINUSCA cumprisse os objetivos do mandato?
Acredito que meu maior legado foi ter criado uma estrutura para a missão dos assessores de gênero e ter deixado tudo documentado, além de ter criado diretivas e outros documentos que antes não existiam. Esse é um trabalho que ainda precisa ser consolidado com o tempo, mas que possibilitou uma continuidade. Outro legado importante foram os times de engajamento feminino: batalhões com número razoável de mulheres capacetes azuis, que começaram a se engajar mais com a população local. Ainda assim, minha sensação é de que não terminei meu trabalho lá. Fala-se muito pouco sobre a RCA, mas lá as pessoas são doces. Elas não te pedem dinheiro ou comida, pedem hortas para trabalharem. Sem ajuda de fora elas vão ficar ali, sem oportunidade, sem ter como sair dessa situação. Se a RCA é o país menos desenvolvido do mundo, acredito que é justamente lá que precisamos estar.
O que pretende fazer com tudo que vivenciou durante a missão? Quais as suas expectativas (profissionais e pessoais) com relação ao retorno?
Quero continuar fazendo proteção de civis. Hoje não consigo me ver fazendo outra coisa. Foi o momento em que fui mais feliz e me senti mais útil em toda a minha vida. Em que pese a ausência da minha família, não me senti sozinha lá. No episódio do ataque, não senti hostilidade por ser estrangeira, mas sim a hostilidade fruto da expectativa que a população local deposita na missão, tanto na parte de proteção quanto na parte de suporte econômico. Sabemos que a responsabilidade primária é do estado e que a missão tem suas limitações, mas eu acredito que muitas violações são evitadas pela MINUSCA na RCA. Seria pior se não tivesse a missão. Então esse é um trabalho em que acredito. Agora estou indo trabalhar no CIASC, que é o centro de instrução da Marinha para militares que serão desdobrados, e estou feliz que vou continuar em contato com essa área. No futuro, quando acabar meu tempo de força, quero continuar como civil na ONU. Ou, ainda na força, participar de outra missão.
Que mensagem gostaria de transmitir a outras mulheres brasileiras (militares, policiais e civis) que pensam em desbravar novos caminhos no exterior?
Eu aconselharia que elas se olhassem, se conhecessem, para saber se isso é o que elas realmente querem. São missões cheias de desafios e provações. E diria para irem em frente, caso vejam que é isso mesmo. Pude ver com meus próprios olhos que nós mulheres fazemos muita diferença no terreno.
Pérola Abreu Pereira e Giovanna Kuele são pesquisadoras do Instituto Igarapé.
Pereira, P. A. e Kuele, G. “Entrevista exclusiva com a CC Márcia Braga”. Publicado pela REBRAPAZ
em 22/08/2019. Disponível em: https://rebrapaz.com/o-que-pensamos/