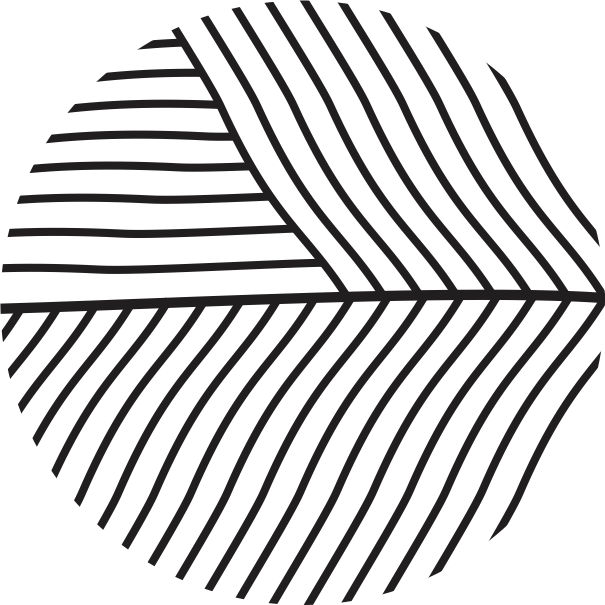Declínio devido a globalização não representa fim dos Estados-nação
Novembro, 2017
A era dos Estados nacionais está em declínio. Eles são, afinal, retardatários na história. Até recentemente, em meados do século XIX, o mundo era dividido em impérios, cidades-Estados e os recém-nascidos Estados nacionais (ou Estados-Nação), que só se consolidaram no século XX. Mas esses, com suas fronteiras definidas, governos centrais, comunidades idealizadas e autoridade soberana, não são inevitáveis nem eternos, como pode ser visto com o fim da Guerra Fria. Há menos clareza sobre o que aconteceria em um mundo sem eles. À medida que os Estados nacionais sucumbem às pressões do populismo e do separatismo, a pergunta que fica é: que tipo de ordem (ou desordem) global surgirá em seu lugar?
O enfraquecimento do poder e da influência dos Estados nacionais é frequentemente atribuído à globalização, que é a rápida integração entre dinheiro, ideias e cultura, e costuma ser acusada de destruir a autoridade e a autonomia. Em meados da década de 1990, Jean-Marie Guehenno e Kenichi Ohmae previram que a disseminação inevitável de instituições globais “acabaria” com a relevância dos Estados nacionais. Historiadores discordaram, argumentando que as tecnologias da globalização — do poder da navegação a vela e a vapor ao telefone e à internet — não eram necessariamente destrutivas. Em razão de sua natureza de destruição criativa, a globalização tendia a fortalecer os Estados nacionais, em vez de enfraquecê-los.
Ainda assim, o caráter da globalização transformou-se no final do século XX, tornando-se mais predatório e destrutivo. A hiperglobalização — que inclui a desregulação financeira acentuada, a aceleração dos fluxos do capital e a desintegração das taxas cambiais fixas — cresceu desenfreada nas décadas de 1980 e 1990. As multinacionais pressionavam os estados a reduzir os tributos sobre empresas, a afrouxar as regulações e a aumentar os lucros de capital à custa do trabalho. Enquanto isso, a disseminação de tecnologias de comunicação extraordinárias aumentavam as expectativas públicas. Os futuristas que previam o fim dos Estados nacionais estão de volta e têm bons motivos para crer nisso.
As consequências desconcertantes da hiperglobalização intensificaram-se com o início da crise financeira mundial de 2008. O jornalista Misha Glenny ressalta: “a recusa dos setores de capital e financeiro em mudar seu modus operandi desencadeou movimentos políticos de ruptura na esquerda e na direita”. A crescente ansiedade em países do Ocidente somou-se à internacionalização dos postos de trabalho, à revolução da automação, à estagnação salarial, à assustadora desigualdade e, mais recentemente, à migração em massa. Ficou cada vez mais difícil ignorar a envergadura desses desafios. Ainda assim, as elites políticas e econômicas não pareciam ter capacidade ou vontade de apresentar uma resposta.
Em um mundo verdadeiramente globalizado, onde tudo e todos estão conectados, a dos Estados nacionais está sendo analisada por todos os ângulos. Muitos — especialmente — são menos apegados à ideia de Estados-Nação do que seus antecessores. Ao se voltarem para comunidades conectadas, eles buscam identidades alternativas, sejam elas inspiradas por fé, etnia, língua, classe ou sexualidade. As falhas nas identidades políticas e o surgimento de “estados-rede” estão exercendo uma nova pressão sobre os Estados nacionais e partidos políticos tradicionais. Se antes a globalização era uma força unificadora, agora ela fortalece uma localização maior.
Pense no caso da Europa, por exemplo, que está sendo separada pelas forças centrífugas de suas muitas identidades fragmentadas. A decisão tomada por uma ligeira maioria dos cidadãos do Reino Unido de sair da União Europeia, em 2016, foi apenas a ponta do iceberg. Mesmo os apoiadores mais fieis da União Europeia — França, Alemanha e Holanda — evitaram por pouco uma virada nacionalista nas últimas eleições. Paralelamente, países como República Tcheca, Grécia, Hungria e Polônia estão se tornando cada vez menos liberais. Os países oriundos da antiga União Soviética e da ex-Iugoslávia já se fragmentaram, seguindo as linhas tribais, durante a década de 1990.
Percebendo essa fraqueza, os separatistas estão em marcha na Europa e ao redor do globo. Os apelos por mais autonomia vão além do (recém-reprimido) movimento de independência dos separatistas catalães: observe movimentos similares na Bavária, na Córsega, em Flandres, na Lombardia, na Escócia, na Transnistria e em outros lugares. O cientista político Ryan Griffiths documentou 55 movimentos separatistas ativos, cada um com suas próprias táticas distintas – que vão desde a violência e a resistência civil até a disputa nas urnas. Separatistas do Curdistão ao Vêneto costumam justificar suas demandas como uma forma de retomar controle e competir em uma economia globalizada.
O separatismo não é o “novo normal”, mas um lembrete da persistente vulnerabilidade dos Estados nacionais. Aqueles que buscam independência e autonomia são encorajados pelo fracasso dos países atuais — especialmente pelas suas elites — em cumprir o contrato social, e isto não é nenhuma novidade. No fim do século XIX, o intelectual francês Ernest Renan alertou exatamente sobre este risco, descrevendo a nação como um “referendo diário”. As nações não puderam ser reduzidas a fronteiras rígidas ou história antiga: elas são a expressão diária de “consentimento”. E quando não há a capacidade ou a vontade de consentir, o projeto nacional fica em xeque.
Ainda assim, os Estados nacionais estão em baixa, mas não derrocaram. Eles sofreram com a hiperglobalização, mas há grandes esforços para reafirmarem sua autoridade. Uma espécie de nacionalismo reacionário ressurgiu: uma narrativa no estilo “meu país primeiro” vem se espalhando como um câncer pelas Américas e pela Europa, chegando à Ásia e à África. Os sintomas são assustadoramente familiares: ascensão de tiranos populistas, fechamento de fronteiras e rejeição ao internacionalismo liberal. Há ecos preocupantes do passado, tais como a liderança autoritária, a crescente xenofobia e a sabotagem institucional que ocorreu durante a década de 1930, que levou a uma guerra e a um massacre sem precedentes.
O avanço do nacionalismo reacionário e de políticas identitárias militantes bate de frente com o que o cientista político David Held descreve como “a política de concessões e acomodação” que prevaleceu desde a década de 1950. O mais alarmante é que o país que foi essencial para a construção de uma arquitetura global liberal — incluindo as Nações Unidas, os Acordos de Bretton Woods e a Organização Mundial do Comércio — agora está trabalhando para destruí-la. No governo Trump, os EUA estão se retirando de uma abordagem coletiva e adotando uma voltada a interesses nacionais provincianos. Os Estados Unidos estão mais ensimesmados do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra. Trata-se de uma superpotência mercenária, que estimula tiranos desde as Filipinas até a Turquia.
Uma consequência perigosa do retorno aos nacionalismos antagônicos é a diminuição da cooperação internacional. Analistas como Ian Bremmer e Nouriel Roubini descrevem o atual dilema como o “mundo G Zero”, onde nenhum país, região ou coalizão — seja o G20 ou G8 — pode ou quer assumir a liderança global. Em vez disso, há resistência, e em alguns casos até hostilidade, à arquitetura multilateral projetada para garantir a segurança e o comércio globais. Aqueles que saíram perdendo com a hiperglobalização estão revidando, protestando contra os imigrantes e clamando por mais protecionismo.
O momento não poderia ser pior. Os acordos globais precisam urgentemente reverter o aquecimento global, frear a ameaça de ataques nucleares preventivos, evitar pandemias e superbactérias, e responder ao deslocamento populacional e às guerras prolongadas que o causam. À medida que o humor global piora, os Estados nacionais só parecem capazes de tomar meias medidas. Assim, não é de se espantar que as instituições internacionais criadas para enfrentar esses desafios — nada menos que o Conselho de Segurança das Nações Unidas — estejam paralisadas. Algumas cidades com poderio econômico estão assumindo a responsabilidade, mas elas ainda não têm o poder político para substituir essas instituições na mesa onde as decisões globais são tomadas.
Como o mundo muda da desordem pós-guerra para um novo sistema de interdependência administrada é uma das questões mais urgentes da nossa época. São vários os cenários – todos incertos. A bem da verdade, nem contenção nem retirada são opções, pois poderiam desencadear conflitos regionais ou algo pior. O mais provável seria um projeto econômico internacional liberal menos ambicioso com uma maior dependência de redes transgovernamentais e não governamentais. No curto prazo, as potências liberais precisarão arrumar suas próprias casas ao mesmo tempo em que equilibram uma inquietante coexistência com Estados nacionais não liberais. No longo prazo, um novo mapa de governança global se faz urgentemente necessário. Um que se responsabilize pela diversidade, pluralidade e mudanças incontestáveis para o equilíbrio global e a distribuição do poder.
Por Robert Muggah