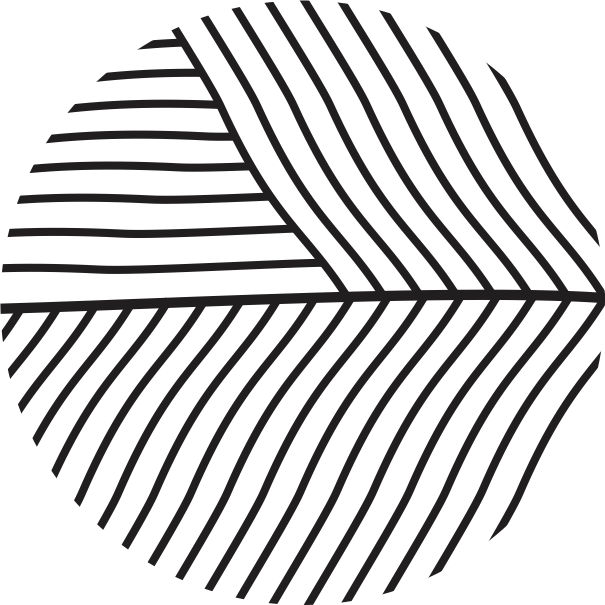O tratamento de presos é indicador de grau de civilidade
As primeiras semanas de 2017 no Brasil foram banhadas de sangue. Uma violência selvagem irrompeu em prisões no Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte, afora ocorrências menos noticiadas na Paraíba e em Alagoas, São Paulo e Paraná. Até a quinta (19), quando esta edição foi concluída, mais de 130 detentos haviam sido mortos –muitos deles decapitados e estripados–, e vídeos registrando as atrocidades circularam nas mídias sociais.
O sadismo é intencional, destinado a enviar uma mensagem. Mas é também uma consequência trágica de décadas de negligência do sistema penal e da segurança pública em geral.
Os dados factuais ligados a essas rebeliões já são bem conhecidos, mas não custa repassá-los brevemente. O primeiro massacre ocorreu em 1º de janeiro, em um presídio administrado por uma empresa privada em Manaus, deixando um saldo de 56 mortos –quase todos suspeitos de filiação ao Primeiro Comando da Capital (PCC), sediado em São Paulo.
Cinco dias depois, 33 detentos morreriam numa prisão de Roraima. Boa parte deles era filiada à Família do Norte, organização criminosa associada ao Comando Vermelho (CV), facção do Rio. Nos dias que se seguiram, outros oito detentos foram mortos em Manaus; no terceiro fim de semana do mês, pelo menos 26 foram mortos em rebelião na Penitenciária de Alcaçuz, em Natal (RN).
Por mais chocantes que esses últimos surtos de violência em prisões sejam, eles não são inéditos. Nessa rubrica, o episódio mais letal da história do país ocorreu em 1992, quando 111 presos foram mortos durante um motim no complexo do Carandiru, em São Paulo. A sublevação daria origem ao PCC. Outras insurreições ocorreram em Rondônia, em 2002; Maranhão, em 2010; Pernambuco, no ano seguinte; e Rio de Janeiro, em 2014. Na última década, houve registro de violência em cadeias de pelo menos 24 dos 26 Estados do país.
Os massacres de 2017 não surgiram de forma inesperada. Sua origem pode ser situada em 2016, se não antes. Depois de suspeitar que seu rival estava se aliando a facções inimigas, o PCC declarou publicamente guerra ao CV em setembro passado.
Logo teve início a troca de agressões, com embates mortais entre as duas facções que se espalharam pelo país. Houve ao menos 88 mortes em estabelecimentos prisionais no Acre, no Ceará, em Mato Grosso do Sul, no Piauí e em Roraima ao longo de 2016 –um aumento de 60% em relação ao total de 2015.
A matança se acentuou no final de 2016. Uma rebelião em 16 de outubro numa penitenciária de Boa Vista deixou dez mortos. Todas as vítimas eram supostamente ligadas ao CV. Na ocasião, membros do PCC invadiram uma ala da prisão onde residiam integrantes do CV e os atacaram com facas e porretes.
No dia seguinte, oito detentos morreram asfixiados durante um motim em Porto Velho (RO). Já no dia 18, vários presos foram feridos em uma prisão em Rio Branco (AC). Por fim, em 20 de outubro, quatro presos foram mortos e 19 feridos durante um motim de detentos em outra unidade da capital acriana. Acredita-se que a maioria dos mortos fosse filiada ao PCC. Naquela semana, muitos membros dessa facção encarcerados em São Paulo pediram para ser transferidos para “locais neutros”.
656 MIL PRESOS
Há razões estruturais e causas mais circunstanciais para os espetaculares níveis de violência nas prisões do Brasil. A causa estrutural é o encarceramento em massa. O Brasil tinha 232 mil presos em 2000 e mais de 656 mil em 2016, um aumento de 182%, segundo levantamento do jornal “O Globo” junto às secretarias de administração penitenciária de 26 Estados e do Distrito Federal. Só EUA, China e Rússia encarceram mais pessoas.
Cerca de dois quintos de todos os detentos brasileiros aguardam julgamento, alguns deles permanecendo na prisão durante anos sem nem sequer uma audiência judicial. Um terço de todos os homens e perto de três quartos das mulheres presas estão na cadeia por crimes ligados às drogas, em boa parte não violentos.
As causas circunstanciais são a superpopulação e as condições medievais dos presídios. A maioria dos 1.424 estabelecimentos prisionais do Brasil exibe condições aterradoras. Um ex-ministro da Justiça disse que preferiria “morrer” a ficar recluso em uma cela de prisão brasileira.
A confluência desses dois fatores constitui uma bomba-relógio. Por um lado, as casas de detenção têm capacidade nominal para acolher apenas metade do volume das pessoas presas no Brasil. A prisão terceirizada em Manaus, por exemplo, espremia 1.224 pessoas em um espaço com apenas 454 vagas. A de Roraima apinhava 1.400 detentos em um prédio com apenas 700 lugares. É comum faltar comida e água; surtos de doenças contagiosas também são rotineiros. Quando seres humanos são tratados como animais, não admira que possam agir como tais.
Além disso, as prisões brasileiras são, na prática, administradas por facções criminosas. Elas fazem as vezes de juízes, jurados e carrascos. Já foram descritas como Estado paralelo –sob o jugo delas, prisioneiros não raro entram e saem do cárcere a seu bel-prazer.
De sua parte, os agentes penitenciários costumam ser mal treinados; muitas vezes, soma-se a isso um perfil francamente violento, que os conduz a reproduzir os comportamentos que deveriam rejeitar.
O público brasileiro permanece apático diante desse quadro. Muitos saúdam a morte de presos, lançando mão de variantes do famigerado discurso “bandido bom é bandido morto”. Para visitantes de fora do país, a situação beira o surreal.
O estopim para o último surto de violência nas prisões foi o fim da trégua entre o PCC e o CV, que durava duas décadas. Os sinais de alerta estavam evidentes antes de setembro de 2016. Um pacto havia garantido o fluxo de drogas e armas entre o Brasil e seus vizinhos Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela.
A irrupção da violência ao longo de um corredor-chave para o tráfico de drogas –em especial o centro de distribuição de Manaus– não foi uma coincidência. O PCC tinha aberto frentes contra a Família do Norte no Amazonas e contra o CV no Rio muito antes das mortes deste mês. O ordenamento geopolítico das facções criminosas do Brasil está gerando fagulhas dentro e fora dos muros das prisões.
A crise de segurança pública pode impactar negativamente o atual governo. Os órgãos federais competentes estão se esforçando para se adiantar à crise, embora ainda precisem entender plenamente sua gravidade. O governo foi obrigado a anunciar prematuramente um Plano Nacional de Segurança Pública que só seria lançado no fim de janeiro. O projeto confere prioridade e posição central à reforma penal, à redução de homicídios e ao combate ao crime organizado de drogas e armas.
É injusto atribuir a culpa pela crise prisional integralmente ao Executivo federal; o problema vem de pelo menos meio século. A Constituição de 1988 atribui aos Estados o maior quinhão de responsabilidade pelas prisões; não espanta, portanto, que as condições das instalações carcerárias variem sensivelmente de uma região à outra. Mas cabe reconhecer a omissão do Executivo federal em exercer papel de coordenação frente à deterioração exponencial do sistema nos últimos anos.
COORDENAÇÃO
A despeito da crise política e financeira que afeta o Brasil, há formas comprovadas de melhorar a situação. Fazê-lo exigirá liderança política e coragem, dois atributos atualmente em falta no país. Exigirá também um esforço coordenado dos governos federal, estaduais e municipais.
Não se trata de um abacaxi a ser descascado pelo Planalto ou por esta ou aquela administração estadual. O problema é de todos os brasileiros; o tratamento dado a presos é um indicador da moralidade e civilidade geral de uma sociedade.
O anúncio pelo governo federal de um pacote para acelerar a reforma de prisões é um começo. Cerca de R$ 1,2 bilhão já foram repassados a todos os Estados no final do ano passado, na expectativa de que cada um crie ao menos 1.200 vagas para detentos e invista em equipamentos de segurança e inspeção. Outros R$ 200 milhões estão sendo alocados para a construção de novas prisões federais, com mais R$ 80 milhões para a compra de scanners corporais e R$ 150 milhões para bloqueadores de telefone celular.
Embora essas medidas não apontem para uma real reforma do alquebrado sistema penitenciário brasileiro, elas podem produzir melhorias pontuais. De toda forma, são expedientes provisórios que ficam muito aquém do necessário.
O governo precisa retomar o controle da segurança pública, o que inclui reaver as rédeas do sistema carcerário. A atual gestão não é a primeira a tentar fazê-lo. No ano 2000, em seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso defendeu a criação de 47 mil vagas prisionais e o estabelecimento de um Fundo Penitenciário Nacional. Em 2003, foi a vez de Lula falar na construção de unidades.
Dez anos atrás, a encarnação anterior do Plano Nacional de Segurança Pública fazia menção à construção de 160 penitenciárias até 2012; o programa acabaria abortado no governo Dilma. Uma das lições a se tirar disso é que a ação do governo não deve se concentrar exclusivamente na abertura de prisões.
A prioridade número um tem de ser a redução do contingente de detentos nas prisões brasileiras. Isso significa diminuir o volume de presos que aguardam julgamento e daqueles que estão atrás das grades por crimes não violentos. Juízes, promotores e defensores públicos federais e estaduais devem criar forças-tarefa em nível estadual para solucionar rapidamente casos pendentes.
A etapa seguinte deve ser consertar o sistema de medidas socioeducativas (para menores de idade), tão apodrecido quanto o sistema para adultos. Governadores, prefeitos e líderes municipais também precisam assumir maior responsabilidade na reabilitação de réus primários. O apoio à recuperação de adolescentes em risco pode reduzir a probabilidade de eles ingressarem em organizações criminosas.
Descriminalizar o uso e o porte de drogas para consumo pessoal também pode diminuir manifestamente os novos ingressos na rede carcerária. Essa matéria já está em análise no Supremo Tribunal Federal, mas sua apreciação foi adiada no ano retrasado. Em vez de aplicar penas pesadas, o sistema judiciário deve introduzir punições proporcionais para membros do baixo escalão do tráfico de drogas não violentos e primários.
Esse, na verdade, já é o entendimento do STF, que compreendeu que o tráfico privilegiado, aquele praticado por réu primário, sem ligação sabida com organização criminosa, não se equipara a crime hediondo –entendimento que permite a progressão de pena e a concessão de indulto para esses casos e garante que não ficarão em celas ao lado de quem comete crimes violentos. Falta agora estendê-lo em escala nacional. Combinar esses tipos de iniciativa com uma concepção restaurativa da Justiça (ou seja, que atue no sentido de reduzir a reincidência no crime) pode começar a resolver o problema prisional brasileiro.
Por Robert Muggah e Ilona Szabó de Carvalho
Artigo de Opinião publicado em 21 de Janeiro de 2017
Folha de S. Paulo