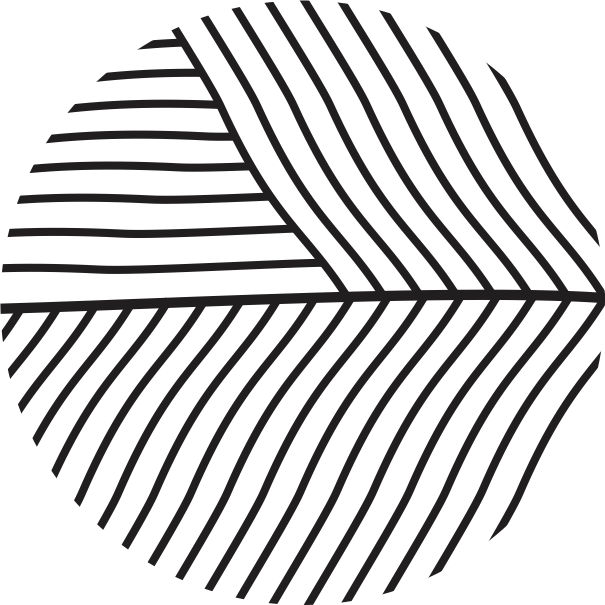A guerra de cada um
Publicado originalmente em Projeto Colabora | por Aydano André Motta | 18/08/2017
A polícia mostra-se impotente ante à força dos bandidos; os tiroteios banalizam-se por todas as regiões;
balas perdidas produzem dezenas de vítimas; agentes da lei são exterminados como moscas; outros
enveredam pelo caminho da corrupção; marginais com armas de guerra privatizam trechos inteiros da
cidade, sequestram vias expressas; cargas viram alvo dos criminosos, sendo roubadas em quantidades
industriais; casas de comunidades populares têm as paredes crivadas de (muitas) balas; o ir e vir passa a
ter inúmeras restrições; cidadãos entregam-se ao pânico; a população vive dias (meses, anos) de terror.
Mas… isso é guerra?
Na conversa informal, sem problema, vale tudo – mas quando ganha tons oficiais, abre-se uma tampa
perigosa, muito além de mera questão semântica. A guerra prevê rendição ou extermínio total do
inimigo, e eventual sacrifício de inocentes em nome do objetivo. As leis mudam, os direitos individuais
são revogados. O cotidiano de toda a população – não apenas de uma parte – altera-se profundamente.
Para resumir, no idioma da rua: o buraco é muito mais embaixo.
O diário carioca “Extra” dobrou a aposta na controvérsia, ao gritar, em sua capa de quarta, 16 de agosto,
que estava criando uma “Editoria de Guerra” para cobrir o cotidiano da violência. Estampou a palavra,
garrafal, invocando documento do Instituto de Segurança Pública (ISP), que conta 843 localidades no
Estado do Rio “sob o controle de grupos armados”. Ainda na primeira página, o editorial “Isso não é
normal” defendia a decisão. “Tudo aquilo que foge ao padrão da normalidade civilizatória, e que só
vemos no Rio, estará nas páginas da editoria de guerra”, decretou o jornal.
Quando se olha o “campo de batalha”, no entanto, surge o adversário verdadeiramente invencível, no Rio
e no Brasil: a desigualdade. As balas voam em quantidade incomparavelmente maior nas áreas mais
pobres – favelas, subúrbios e cidades da região metropolitana –, onde, jamais por acaso, os bandidos se
escondem. Por lá, morre tudo – bandidos, policiais, civis, atividade econômica, aulas, direitos. As
urgências se multiplicam em ritmo incessante.
Do outro lado do abismo social, pode não estar bom – mas ainda vai tudo muito melhor. Na outra parte
da cidade, a violência faz suas aparições, mas a intensidade não dá nem para a saída. Assim, se for
“guerra”, será para quem?
“A gente precisa ter cuidado na hora de usar esses conceitos”, previne Robert Muggah, diretor de
pesquisa do Instituto Igarapé, ONG que estuda violência. Lembrando que a expressão é recorrente na
retórica da violência carioca, “para mostrar a severidade e letalidade dos confrontos”, ele observa que
órgãos como o Ministério da Defesa e o Exército passaram a usá-la de maneira institucional. “Numa
situação como a do Rio, do México ou de El Salvador no passado, a nomenclatura internacional,
humanitária, fala em situação de violência”, explica.
Até porque, oficializá-la significa alterar até mesmo as leis vigentes. “O protocolo de 1977 da Convenção
de Genebra, em seus artigos 2 e 3, trata da proteção aos civis em caso de guerra. Estão previstas punições
ao país que não respeita as normas”, alerta o diretor do Igarapé. “Trata até do tratamento aos prisioneiros,
diferente dos presos comuns”.
O uso da palavra de maneira literal, pondera Muggah, não prevê o que vem junto com ela. “Numa
situação de guerra há muitas perguntas e uma especificidade: o inimigo claro, identificado, específico”,
sublinha. “Contra quem estamos em guerra? Qual é e onde está o comando inimigo? As tropas oponentes
têm insígnias e uniformes que as distinguem nos territórios? Como diferenciar os soldados inimigos de
outros grupos que servem a eles, como motoristas e cozinheiros?”, questiona, acrescentando que o
Itamaraty jamais se pronunciou para falar em “estado de guerra” ou coisa parecida.
Num artigo de 2010 (a crise vem de longe) no “Estadão”, João Paulo Charleaux oferece mais
argumentos, sob perspectiva jurídica. “’Guerra’ é um conflito entre as Forças Armadas de dois ou mais
países. (…) Dizer o contrário traz mais problemas que soluções para a população, embora a imprensa
tenha no uso do termo uma de suas muitas muletas úteis – como na guerra contra a dengue, a fome, o
câncer”, pondera.
Michel Misse, sociólogo da UFRJ, especializado em segurança, vai na mesma direção – faz tempo. “Há
20 anos tenho repetido que não se pode confundir conflito urbano, envolvendo criminalidade, com
guerra. Se tivermos realmente uma guerra, vamos chamá-la com que nome? Guerra implica
reconhecimento da soberania em disputa, justificação da violência e possibilidade de armistícios ou
rendição incondicional”, descreve. “Não há esse cenário no Rio, é uma criminalidade violenta que só
pode ser controlada, jamais totalmente eliminada”.
O mais grave está nas letras pequenas do contrato. Com décadas de estudos sobre o tema, o professor
entende que os defensores do conceito pregam, em consequência, a eliminação sumária do inimigo. “É a
lógica do esquadrão da morte, que levou à atual situação. Uma mentalidade fascista, totalitária, que não
se distingue muito daquela que quer combater. É a barbárie completa”, ataca. “Só há salvação na lei. E
não foi nem será decretado no Rio o ‘Estado de Guerra’.”
Cecília Olliveira, jornalista especializada em segurança e direitos humanos, aponta que esse enfoque
endossa uma política fracassada do Estado. “Não é uma guerra. É o resultado de corrupção, mau
planejamento, falta de investimento em pessoal e inteligência e descaso histórico – e complacente – com
áreas do estado”, escreve ela.
Robert Muggah, do Igarapé, vai na mesma direção. Enfatizando seguidamente que a situação do Rio é
“muito séria”, ele contesta a ideia de que estamos em guerra, ”segundo o conceito internacional vigente”. E lembra a experiência da Cruz Vermelha Internacional, que esteve na cidade entre 2009 e 2014, para um
projeto-piloto de conflito urbano. “Eles nunca utilizaram a palavra guerra”, arremata.
Nem de guerra civil dá para chamar, na opinião de Michel Misse. Ainda bem – porque o governo
vencedor poderia, ao cessarem as hostilidades, “conceder a anistia mais ampla possível às pessoas que
tenham tomado parte no conflito armado ou que se encontrem privadas de liberdade, internadas ou
detidas por motivos relacionados com o conflito armado”, de acordo com o protocolo da Convenção de
Genebra, do qual o Brasil é signatário desde 1993. “No Rio, significa dizer que o governo poderia, ao fim
da suposta ‘guerra’, libertar os traficantes”.
Ou seja: muita calma nessa hora. E cuidado quando andar na rua, especialmente à noite.