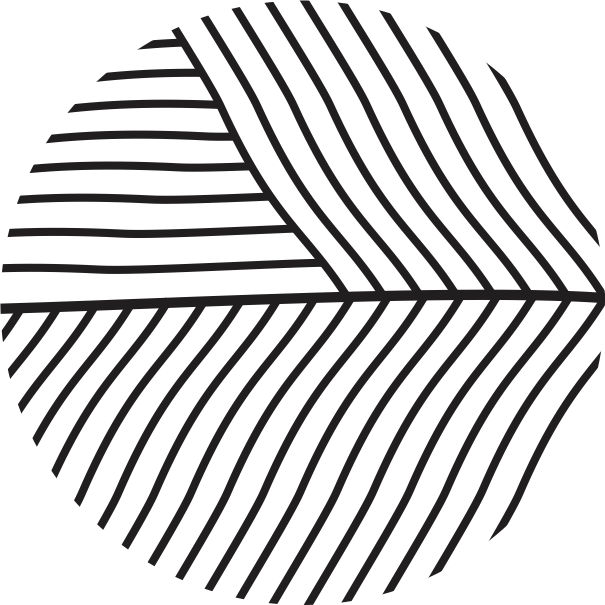Policial que denuncia colega matador arrisca o pescoço, diz pesquisador
Agosto, 2015
Passeando de noite por São Paulo, o canadense Graham Denyer Willis ouviu sirenes e dois tiros -pá, pá. No local, viu um homem sobre uma poça de sangue diante de PMs. Um oficial perguntou se ele poderia testemunhar. “Não. Só ouvi dois tiros.”
Ainda assim, o policial insistiu e deu duas instruções: “Você ouviu três tiros, e não dois. E ouviu policiais gritarem para o sujeito abaixar a arma antes de atirar”.
Willis deu de ombros, mas, ainda naquela noite, iria para uma delegacia. Isso porque, entre 2009 e 2012, ele acompanhou o dia a dia de investigadores de homicídios da cidade, em distritos e no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Ao focar sua análise não em números, mas no cotidiano policial, Willis presenciou as ações e os desvios, as limitações e os medos de quem vive perto demais do crime.
O resultado da pesquisa está no livro “The Killing Consensus: Police, Organized Crime and the Regulation of Life and Death in Urban Brazil” (consenso assassino: polícia, crime organizado e a regulação da vida e da morte no Brasil urbano), lançado neste ano.
Hoje professor na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, Willis avalia que os entraves comuns na investigação de homicídios no Brasil se tornam mais complexos quando o agente da morte é um policial, em serviço ou mascarado -como parecem apontar os indícios de autoria das 19 mortes ocorridas de Barueri e Osasco no dia 13.
Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) diz não haver indícios da existência de grupos paralelos organizados nas forças policiais. Segundo o órgão, os números de demissões e expulsões das corregedorias das polícias mostram que os crimes cometidos por policiais são apurados e punidos. De acordo com a nota, desde 2011, 1.321 policiais foram expulsos, 603 foram demitidos e 1.652, presos.
Leia, a seguir, trechos da entrevista com Willis concedida à Folha.
Folha – Durante seus anos de pesquisa, quais indícios colheu de que há esquadrões da morte nas polícias?
Graham Denyer Willis – Em 2012, quando ainda estava acompanhando detetives do DHPP, houve um pico de chacinas na cidade. Esse é um padrão muito específico de violência: homens encapuzados, geralmente em motocicletas, atiram em todos, numa ação que difere dos métodos associados ao crime organizado paulista.
Notei que a investigação de chacinas assim era muito diferente da investigação dos demais homicídios. Ela é reportada para a delegacia da região, que informa o Centro de Operações da Polícia Militar e depois DHPP. Nesse percurso, que se torna mais lento, muita coisa acontece: batalhões locais se envolvem, a delegacia local também, no bom e no mau sentido.
Como assim?
Vi algumas vezes que, quando havia uma chacina, o batalhão local tomava a dianteira e chamava uma equipe específica de peritos da polícia científica. E aí surgem as perguntas: O que significa essa relação de proximidade com certos peritos? Quem está investigando quem?
Essa é uma forma de levar para a cena do crime gente que seja mais compreensiva com o ocorrido. A intenção é acobertar evidências de forma a preservar quem cometeu as mortes de uma investigação isenta. E ainda que um policial seja processado, ele frequentemente sai impune.
Isso quer dizer que a própria polícia faz vista grossa para colegas que integram esses grupos de matadores?
Sim, com certeza. Altos oficiais e secretários de Segurança podem negar, mas os policiais sabem quem faz parte desses grupos. Há quem aprove esse tipo de ação, mas há outros que desaprovam.
E por que eles não denunciam?
Existe uma ideia de que todos têm de se unir quando um policial é atacado. Se algum policial pregar contra uma retaliação, ele será mal visto internamente e se tornará um alvo fácil.
Se, por um lado, há interesse político em responsabilizar policiais que matam e praticam crimes, por outro lado ninguém quer ser o herói desta causa porque isso arriscaria seu pescoço. Policiais não se sentem protegidos para fazer essas denúncias.
Muitos não confiam nos próprios programas de proteção à testemunha, que avaliam como uma piada diante dos grupos de extermínio.
Qual é a diferença entre a ação de esquadrões da morte e a letalidade policial?
A principal diferença é que as mortes ocorridas no expediente do policial, em abordagens e operações, é rotineira. É uma violência que ocorre todos os dias contra supostos criminosos. Com pouca variação, esse tipo de morte tem grande continuidade e cresceu neste ano.
As chacinas, por contraste, são reacionárias e ocorrem em resposta a algo considerado injusto. Como em Osasco e Barueri, observamos a morte de um guarda civil metropolitano e de um policial militar dias antes da chacina.
As mortes ocorrem em locais que os policiais sabem ou que acreditam ser redutos do crime organizado. Como o PCC costuma revidar esse tipo de ataque, uma vingança pode virar uma crise maior.
Mas há notícias sobre esquadrões da morte muito antes de se ouvir falar em PCC.
Historicamente, o Brasil tem esquadrões da morte. Muitos tinham inclusive um membro público, como o Cabo Bruno, celebrado por promover limpeza social no Jardim Ângela (zona sul de SP). Matavam aqueles que supunham ser bandidos, desordeiros ou pivetes. Agora, os esquadrões da morte têm que ser mais reservados, seja por receio de retaliação do crime organizado, seja porque sua corporação hoje sofre mais pressão para descobrir os autores de chacinas. Antes essas pressões não existiam.
Que tipo de estrutura ou cultura favorece a formação de esquadrões da morte?
Há uma cultura, dentro das polícias, de olhar para o outro lado. E há uma grande solidariedade na corporação. Se você vê seus colegas sendo assassinados, é muito difícil descolar a sua insegurança da ação que mata aqueles que você percebe como ameaça. Enquanto policiais forem assassinados, haverá apoio dentro das polícias para essas chacinas. Há um medo generalizado.
Ao circular com policiais, durante a pesquisa, você foi contaminado por esses sentimentos de medo e insegurança?
Sem dúvida. Houve vezes em que saía com policiais para uma investigação e percebia que eles estavam aterrorizados. Não admitiam, mas era evidente que estavam. Outras situações eram tensas porque eles eram hostilizados pela população.
Qual é o papel da opinião pública nessa equação?
Essa violência da polícia recebe apoio de muitos setores da sociedade brasileira. Não apenas isso: políticos eleitos também apoiam esse tipo de ação, de forma pública ou não. Então, há uma voz política que é, na maior parte das vezes, favorável.
Como prevenir chacinas?
É algo tão intrincado historicamente na estrutura das polícias, que é como se fosse a sua sombra. Não se trata, como se diz, de um punhado de maçãs podres em um cesto, é um pacto de vigilância que, na maior parte dos casos, é previsível. Dá pra dizer quando e onde vai acontecer.
No livro, você diz que a queda de homicídios em SP se deve à ação do PCC nas periferias e não à política de segurança pública do Estado. Essa análise é bastante contestada.
Se olharmos os dados de homicídios em São Paulo nos anos 1990, veremos que a maior parte ocorria em locais como Jardim Ângela, Capão Redondo e Cidade Tiradentes. É onde havia 113 mortes por 100 mil habitantes enquanto Pinheiros ou Jardins tinham 1 morte por 100 mil habitantes.
Quando a queda de homicídios aconteceu, ela ocorreu nesses territórios. Se quisermos entender por que, temos que olhar para lá. E precisamos olhar para quem estava morrendo e não está mais: jovens, negros, de baixa escolaridade.
São pessoas nesses territórios e nessa faixa etária aquelas reguladas pelo que o PCC chama de “lei do crime”, regras de convivência para preservar territórios e que vivem neles. Gostaria muito de ver os dados de quem contesta essa informação. Não basta dizer que não é assim. É preciso provar.
Fernanda Mena, Folha de S. Paulo