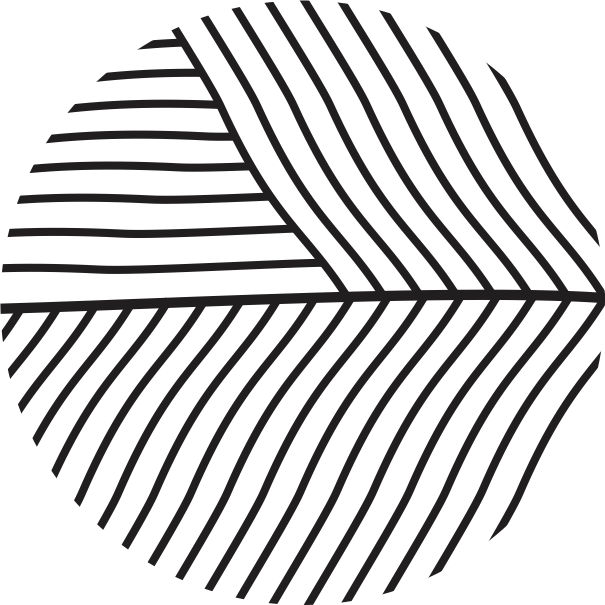Ilona Szabó: uma das lideranças mais influentes pela legalização das drogas
“O Brasil, este lindo país, tem o recorde mundial mais feio: somos o campeão, o número um, em violência homicida. Uma em cada dez pessoas mortas ao redor do mundo é brasileira. Isso resulta em mais de 56 mil pessoas morrendo violentamente a cada ano. A maioria delas são jovens garotos negros, mortos a tiro. O Brasil também é um dos maiores consumidores de drogas do mundo, e a “guerra às drogas” tem sido especialmente dolorosa aqui. Cerca de 50% dos homicídios nas ruas brasileiras são relacionados a essa guerra. O mesmo vale para 25% dos presos.”
Quem diz isso é Ilona Szabó de Carvalho em um vídeo visto mais de 800 mil vezes no TED, a plataforma que reúne palestras de personalidades das mais diversas áreas, do mundo todo. Ela sabe do que está falando: desde 2003, quando se envolveu ativamente na campanha pelo desarmamento que mobilizou o país, trabalhando na organização Viva Rio – ela era, aos 24 anos, a coordenadora dos postos de arrecadação de armas de fogo – a moça se mete com os assuntos espinhosos que fazem da segurança pública uma das questões mais complexas dos nossos tempos.
Diretora executiva do Instituto Igarapé, organização com sede no Rio que junta brasileiros e estrangeiros trabalhando por metas como a redução da violência e uma nova política de drogas para o mundo, ela também atua como coordenadora da Comissão Global sobre Política de Drogas, que tem entre os membros exchefes de Estado como o brasileiro Fernando Henrique Cardoso, e é uma das fundadoras da Rede Pense Livre, formada por 70 jovens lideranças brigando por reformas legislativas e mudanças práticas na maneira como o Brasil lida com a questão dos entorpecentes.
Não é pouca coisa. Só ao longo do último ano, o grupo dirigido por Ilona e o marido, o pesquisador canadense Robert Muggah, desenvolveu pesquisas, lançou publicações, assinou artigos na imprensa nacional e internacional, organizou 30 eventos, fez articulações com políticos, criou um piloto de aplicativo para smartphones destinado a monitorar a ação da polícia… e falou muito, incansavelmente, na tentativa de formar uma nova opinião sobre esses temas, da legalização da maconha ao sistema carcerário. Não bastasse tudo isso, Ilona pôs em prática a maternidade – Yasmin Zoe está completando 1 ano de idade, em um dos momentos mais frenéticos da vida da mãe. “A gente trabalha 24 horas por dia. Minha maior missão hoje é retomar meus fins de semana e ter mais tempo para a pequenininha.”
“Se você está em um país que depende de tantas transformações, precisa investir em quem confia, na causa que te toca”
Nascida na “Suíça brasileira”, a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Ilona é cidadã do mundo. Aos 16 anos, embarcou para a Letônia, país do Leste Europeu banhado pelo gélido mar Báltico – apenas porque, quando lhe foi dada a chance de fazer um intercâmbio, queria “passar um ano diferente”. Formada em Relações Internacionais pela Estácio de Sá, no Rio, com mestrado na Suécia, ela já rodou o planeta. E quer continuar rodando, até que todas as organizações em que atua “não sejam mais necessárias”, como ela diz. “No dia em que isso acontecer, vamos atrás de outras causas”.
A seguir, a conversa que ela teve com a reportagem da Tpm em São Paulo – entre uma ida a Brasília e a volta para casa no Rio, a tempo de amamentar Yasmin. Sem jamais perder o humor. E a ternura.
Tpm. Você representa diferentes redes: o Instituto Igarapé, a Rede Pense Livre, a Comissão Global de Política sobre Drogas. O que você faz exatamente?
Ilona Szabó de Carvalho. Nem para a minha família está claro [risos]. Minha avó acha que eu trabalho com o Fernando Henrique, meus pais sabem que trabalho com redução da violência. Tenho tanto tarefas de execução – fazer propostas e acompanhar a implementação de projetos, olhar cada rubrica de orçamento, prestar contas, negociar com apoiadores e parceiros, assinar contratos, toda a parte operacional – como a parte de articulação, de bastidores. Somos apartidários, mas estamos totalmente dentro do jogo político, convencendo pessoas, fazendo alianças. O braço principal é o Instituto Igarapé. Na Comissão Global, um projeto autônomo, sou coordenadora executiva. A Pense Livre foi criada por mim e por outras pessoas. Dependendo de onde eu vou, visto um chapéu.
Nos últimos tempos a sua figura está mais exposta. Você fica à vontade nesse papel de protagonista? Como foi fazer a palestra no TED Global, por exemplo? Você acaba se expondo pra que a causa que você defende avance. Há prós e contras nisso. Uma dificuldade no TED é que faço um trabalho coletivo, e a palestra tinha que ser em primeira pessoa. Precisa haver um herói, uma história pessoal. Até mantive alguns we no texto [risos], mas o foco estava em mim. Mas vale muito a pena, hoje o vídeo já está com mais de 800 mil views. É o melhor jeito de ter suas ideias propagadas.
Por que o nome Igarapé? A gente pensou em conexões, canais. Juntamos diferentes atores, que geralmente não trabalham juntos. Governo, sociedade civil, meios acadêmicos, setor privado, meios de comunicação. É exaustivo, porque os temas que a gente trabalha são complexos. Mas pra fazer a mudança sistêmica, que seja duradoura, tem que estar todo mundo junto.
Quem financia? Instituições estrangeiras? A gente busca parcerias fora, mas a verdade é que não estão querendo mais contribuir. Como há países em situação muito mais complicada, nos questionam: “Por que vocês não têm apoio no Brasil?”. O Igarapé é uma organização independente, que não aceita fundos do governo brasileiro, por exemplo. Para não perder a capacidade de ser crítico. Aqui os apoiadores são pessoas físicas, poucas. E surgem coisas como o prêmio que a gente ganhou do Google Brasil, no ano passado. Isso precisa mudar, a sociedade tem que se envolver, as elites. Se você está em um país que depende de tantas transformações, precisa investir em quem confia, na causa que te toca. Dezenas de instituições quebram por falta de apoio.
“O Brasil oficialmente não está em conflito, mas é campeão absoluto no número de homicídios no mundo”
Como foi a trajetória até aqui? Fiz Relações Internacionais, mas já trabalhava dando aula de inglês. Em certo momento eu pretendia levar meu currículo pra uma empresa e pedi pra uma aluna olhar. Ela era gerente de RH de um banco de investimentos e falou: “Olho sim, mas venha ao banco”. Quando eu fui, era uma entrevista. Nunca tinha pensando em trabalhar em banco! Fui estagiária na área de câmbio, depois fui pra outro banco, fiquei quatro anos no setor. Ajudou a pagar as contas, me bancar. E aprendi muito. Eficiência, gestão e o que move o mundo. No mercado financeiro você entende como o xadrez é movido.
E como foi parar no terceiro setor? Andando pelo Rio, um laboratório a céu aberto de todos os problemas sociais, tive o insight de que a minha causa era a violência. Aí li uma matéria sobre um antropólogo inglês [Luke Dowdney, da ONG Luta Pela Paz] que comparou crianças do tráfico a soldados de guerra. Ali eu falei: “É isso que eu quero fazer”. O Brasil oficialmente não está em conflito, mas é campeão absoluto no número de homicídios no mundo. Fiz uma peregrinação até encontrar alguém da minha rede que o conhecesse. E finalmente fui parar numa festa de aniversário onde ele estava e falei: “Eu vou trabalhar com você”. Eu estava indo pra Suécia estudar, consegui uma bolsa de mestrado, mas disse que na volta queria trabalhar com ele.
Deu certo? Deu. Fiquei na Suécia um ano e pouco, depois fiz um curso na Noruega e planejava ir pra Colômbia fazer um estágio. Aí o Luke falou: “Tenho uma vaga, mas não dá pra esperar”. Deixei a Colômbia pra outra hora e comecei no Viva Rio, onde ele estava. Fiquei cinco anos. Primeiro na história dos meninos do tráfico, depois coordenando a abertura de postos de recolhimento de armas, da campanha de desarmamento. Fazia o procedimento de treinar os policiais que ficavam nos postos.
Uma jovem de 24 anos capacitando policiais era respeitada? Houve situações difíceis, algumas só por ser mulher. Tem muita tentativa de intimidação, descrédito. Pessoas achando que você é menina, que não entende nada disso. Até hoje, aos 36 anos, me chamam de menina. Tenho bagagem, não sou tão menina assim.
Qual a foi a situação mais difícil? Teve um debate, uns dez dias antes do referendo [que perguntou à população se o Brasil deveria proibir o porte de armas de fogo, em 2005] e um deputado, que hoje ainda é um
expoente, falava: “Se essa lei passar, eu sou o primeiro a descumprir”. E todo mundo ovacionava. Esse dia me deu desânimo, desespero. Eu não gosto de falar esses nomes porque eles estão aí, vivos, agressivos. E no Igarapé estamos tentando criar canais de comunicação entre todos os polos.
“Houve situações difíceis, algumas só por ser mulher. Tem muita tentativa de intimidação, descrédito”
E cantada, acontece muito? Ah, isso toda mulher sofre neste país. Assédio moral e sexual. Minha tática foi sempre fingir que eu não estava entendendo. Obviamente, se a pessoa insiste em passar do ponto, o corte tem que ser feito. Mas, quando você é mais nova, entender que essas são as intenções é algo muito duro pra uma profissional mulher. Enquanto você não entende que esse é o jogo, você não se protege. A mulher basicamente sorri e já acham: “Deu mole, tá liberado”. Hoje sou macaca velha, sei me defender.
Aconteceu o mecanismo clássico de se masculinizar, bancar a durona? Você endurece mesmo, faz parte do jogo profissional. Essa questão de gênero só foi me bater em cheio quando tive minha filha. Aí você vê que o mercado está formatado de modo a não absorver as mães, as gestantes. Sou privilegiada, não bato ponto, posso escrever de casa, fazer conference call. Mas e quem não pode? Quem sai de casa às 6 da manhã e volta às 11 da noite não cria os filhos. Quantas pessoas criam os filhos dos outros? A sociedade não pode achar que ser mãe é ser um fardo pra uma empresa. Hello, né?
Queria falar das suas origens. Szabó é húngaro? Sim, meus avós maternos são húngaros. Os dois já se foram, mas são referências superfortes na minha vida. Minha avó era Ilona Szabó, mas ao chegar ao Brasil ela virou Helena. E eu é que virei a Ilona da família. Do lado do meu pai é uma supermistura entre espanhóis, portugueses e indígenas.
O que seus pais fazem? Minha mãe é jornalista, mas está aposentada. Meu pai era da área de engenharia naval.
E você nasceu em Friburgo. Sim, meu avô imigrante acabou tendo um hotel lá. Morei em Friburgo até os 16 anos, quando fui pra Letônia, fazer intercâmbio.
Por que Letônia? Sempre quis viajar. Quando houve a chance do intercâmbio, pensei: se vou passar um ano fora, quero um ano diferente. Lembro que no jantar em que eu falei Letônia os talheres meio que caíram. Mas lá em casa nunca teve o não pelo não, sempre teve conversa, e eu estava decidida. Chegando lá, o país passava por uma supertransição, muito pobre, toda uma dependência da Rússia. No meu ano lá a Rússia cortou o gás natural e as casas ficaram sem calefação. Eu vivendo a menos 30 graus, esquentando água para tomar banho. Foi transformador.
Você fala quantas línguas? Uso muito inglês e espanhol. E entendo francês, mas diria que é macarrônico. Já falei letão muito bem e entendo um pouco de russo.
“A sociedade não pode achar que ser mãe é ser um fardo para uma empresa. Hello, né?”
Como conheceu seu marido [Rob Muggah, canadense que também atua no Igarapé]? Ele dirigia uma organização, com sede em Genebra, e apoiava pesquisas que o Viva Rio fazia. Então ele veio pra um seminário aqui, em 2004 ou 2005, e me conheceu. Mas eu estava tão enlouquecida com a campanha do desarmamento que não me lembro disso. Só fui falar com ele em um encontro da ONU no Panamá, em 2007. Ali foi um marco. Depois disso a gente marcava de se encontrar pelo mundo, em seminários em que os dois poderiam estar. Até que ele resolveu tirar um ano sabático e falou: “Vou morar com você”. A gente alugou um apartamento e foi morar junto em 2009.
Vocês se casaram? Sim. Os dois achavam careta, mas pensamos: como juntar as duas famílias? A gente teve uma cerimônia celebrada por uma amiga e alugou um mininavio para a festa. Levamos todo mundo pra velejar na baía de Guanabara, 200 pessoas a bordo, gringo, brasileiro, ao som de muita música brasileira. Era mais pra marcar o encontro das famílias, mas no fim eu usei vestido de noiva e tudo.
E vocês trabalham juntos. Sim. Não dava pra separar, a gente se conheceu trabalhando, é apaixonado pelas mesmas causas. Eu sou a articuladora, cuido do operacional, e ele é o acadêmico, pesquisador. São habilidades complementares. Com muita discussão e confusão, a gente trabalha bem.
Vocês são ciumentos um com o outro? Não, e isso foi fundamental pra eu crescer profissionalmente. Os dois vivem encontrando gente interessante a cada esquina. Se a gente for ficar paranoico, não trabalha. Eu admiro ele e ele me admira, acho que essa é a chave das parcerias de sucesso. Um respeitar o espaço do outro. A gente faz muita coisa junto e muita coisa separado.
Sua gravidez, no meio dessa rotina, foi planejada? Superplanejada. Ele sempre quis, desde que me conheceu. Eu fui com mais calma. Mas, quando decidi parar de tomar pílula, foi rápido. A gravidez foi tranquila. O que deu errado é que eu achei que poderia fazer alguns trabalhos na licença-maternidade. E isso não funciona: uma vez que você abre uma portinha, não tem como fechar. Eu tinha dois grandes objetivos relacionados a trabalho na gravidez: um relatório superimportante da Comissão Global, que a gente lançou quando minha filha tinha 4 meses, e o TED [série de palestras gravada no Rio de Janeiro, em outubro de 2014]. Isso eu não faria novamente. Se eu tiver um segundo filho, quero ter pelo menos uns quatro meses livres.
“Tem muita mulher trabalhando, mas as lideranças ainda são muito machistas. A coisa de ser durão”
Não tem jeito, mãe sente culpa, né? Ah, vem mesmo. Ela estava junto, foi pro lançamento do relatório em Nova York aos 4 meses, mas minha atenção não estava só com ela, né? É um dilema. Fico o mais perto que posso, amamento, mas estou numa batida de empreendedorismo social pesada. Se eu parar, a coisa ainda não anda sozinha. Temos 25 pessoas trabalhando, é uma responsabilidade, e dentro de um mercado incerto. Não dá pra se dar ao luxo de não fazer. Mas a todas as mulheres, eu diria: “Tira seu tempo”.
O parto foi normal? Parto natural. Acho que faz parte dessa reconexão com o feminino. No mundo em que eu vivo, tudo me leva a ser dura, não posso chorar as mortes, tenho que pensar na instituição, estar bem pra falar de temas horrorosos, entrar em presídio e sair de lá achando normal… A beleza do meu trabalho e das mulheres que trabalham comigo é tentar trazer um pouco de leveza, amor e gentileza pra este mundo duro. Então, quando eu vejo que estou desconectando da essência eu falo: “Não dá pra eu ser esse trator que querem que eu seja”. O parto da minha filha tinha que me conectar à essência da mulher. Queria vê-la nascer. E vi, foi maravilhoso.
Ainda tem pouca mulher na área em que você atua? Pouca mulher. Na verdade tem muita mulher trabalhando, mas as lideranças ainda são muito machistas. A coisa de ser durão, tough. Eu vou falar de drogas, violência, e as pessoas vêm “ah, querida, olha pra você”. Porque eu sou mulher não posso falar dessas coisas? A maior parte dessas pessoas não tem nenhuma expe-riência de campo. Eu pergunto: “você já foi num presídio? Na cracolândia? Em clínica de usuário de drogas injetáveis? “. Eu sei do que estou falando, mas vira e mexe vem um “o que você entende disso, querida?”. E vem sempre esse “querida”. Ou “meu amor”. Nossa, “meu amor” então… [risos]. Hoje, claro que estou mais calejada, mais agressiva nessas respostas. Mas demorou.
Como foi sua primeira vez em um presídio, por exemplo? Eu ainda trabalhava em banco, uma amiga trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos e me convidou. Era um terror. Eu digo que o meu pior pesadelo é cometer algum erro e ir parar num lugar desses. Somos humanos, somos todos passíveis de cometer erros, e hoje tudo é crime na nossa sociedade. Estão querendo criminalizar absolutamente tudo. Meu pesadelo é estar privada de liberdade em locais tão desumanos. O espelho da sociedade está no modo como ela cuida das pessoas mais vulneráveis, marginalizadas. A gente é cruel, gosta de vingança. Essa é a maior tristeza de trabalhar com o que eu trabalho. A sociedade não tem informação e é manipulada por pessoas que só acirram essa sede de vingança. Acham que quem está preso deve comer mal, dividir a cela com 50 pessoas, com barata e com rato.
Os que são pobres, né? Sim, no Brasil a punição é ligada a classe social: é muito difícil alguém de uma classe mais favorecida cumprir pena em regime fechado por crimes que não sejam absolutamente bárbaros. O sistema é cheio de pessoas muito pobres que não têm acesso a defesa. Só de ler os relatórios que recebo sobre maustratos, violações, abusos físicos e psicológicos, eu já passei noites sem dormir. Não dá pra um país querer ser desenvolvido tratando pessoas assim. E achar que a resposta para tudo está em punir quem vendeu um cigarro de maconha, quem fez um aborto. Agora querem criminalizar a transmissão de HIV. Se conhecessem um presídio, iam ver que essa é a antirresposta: alguém que tenha alguma chance de recuperação, quando vai pro presídio tem essa chance muito diminuída. É uma vergonha nacional, algo que a gente deveria tentar reformar.
E agora tem esse esforço pela redução da maioridade penal. Que não funciona! Em lugar nenhum no mundo isso reduziu violência. Nos EUA, o país que mais pune, só dois estados têm a maioridade penal de 16 anos, e um deles, Nova York, está revertendo isso, porque viu que é tiro no pé. Não tem nenhum dado, em lugar nenhum, que apoie o retrocesso que a gente está querendo viver. Pensa se o seu filho de 16 anos for a uma boca comprar um pouco mais de maconha pra vender pro amigo ou pro primo. Como é que você pode achar que colocando esse jovem num sistema falido, tomado por organizações criminosas, está construindo um Brasil melhor?
Esse tipo de crime, ligado a drogas, é o que mais leva mulheres para a cadeia, né? Mais de 50% das presas estão lá por questões relacionadas a tráfico. A história mais comum é: a mulher vai ao presídio levar droga pro namorado, passa por uma revista vexatória – uma coisa horrorosa, que finalmente estão tentando proibir por lei – e então acham a droga. A partir daí ela nunca mais volta pra casa. Vai pra uma delegacia, de lá para a penitenciária; algum dia alguém lembra que ela tem três crianças e manda o Conselho Tutelar até elas. Se as crianças não tiverem ninguém, são mandadas para um orfanato. O que a gente ganha com isso como sociedade? E o custo do sistema? E a devolução dessas pessoas depois, pra sociedade? E essas crianças sem pai nem mãe? Como se pode conceber que isso é justiça?
“Estamos chegando no fundo do poço enquanto sociedade. É um individualismo muito forte. E uma desesperança”
Por que tanta gente apoia essas medidas? Acho que estamos chegando no fundo do poço enquanto sociedade. É um individua-lismo muito forte. E uma desesperança. A gente está vivendo uma série de sonhos frustrados e uma falta de lideranças-pontes, que expliquem pra sociedade temas difíceis e digam “olha, vamos passar por um momento de transição e em momentos de transição a gente precisa ter calma”. Essas lideranças sumiram. E lugares vazios são ocupados com soluções mágicas.
Você tem esperança de que isso mude? É otimista? Três anos atrás eu estava bem mais. Todo mundo, né? Não tô botando a culpa em nenhum governo. Pessoalmente, tenho milhões de problemas com este governo, acho que as questões erradas foram priorizadas ou no mínimo as questões certas não tiveram agenda. Mas há uma coisa geral na política hoje que é o péssimo populismo, essa coisa de só fazer o que o marqueteiro manda. Como acreditar nessas pessoas? A esperança que dá pra ter é que, em momentos de crise, como este, geralmente as sociedades acordam. Você deixa de ser individualista e começa a olhar pro coletivo. Tem que olhar pro lado e entender que só vamos sair do buraco juntos. Ter políticas públicas que se dirijam ao que é bom pra todo mundo. É assim com a história da bicicleta, do cinto de segurança, da arma de fogo: pensar no coletivo. Meus amigos que têm mais possibilidade vivem dizendo “tô indo pro Canadá”, “tô indo pra Miami”. Mas 99% das pessoas vão ficar e vão ter que se perguntar: o que a gente faz?
Quando você entendeu que legalizar as drogas era uma solução? A questão das drogas, quando comecei, também era tabu pra mim. Ao longo dos anos eu fui quebrando preconceitos. Vou usar uma metáfora: algo que é muito perigoso, e que não pode ser abolido, você prefere que esteja na mão de quem? De criminosos? Drogas existem e vão sempre existir. Temos que pensar um jeito de regular isso Algumas drogas devem continuar proibidas? Sim, porque tem drogas tão nocivas – caso do crack ou do krokodil, que é uma droga que veio da Rússia – que não dá pra regular. Mas o que você faz com essa turma que usa o crack ou krokodil? Redução de danos. Políticas que tentam melhorar a vida dessa pessoa e melhorar também o dano que a dependência dessa droga pode causar para a sociedade.
Você usa drogas? Ou já usou? Drogas ilícitas não fazem parte da minha vida. Muita gente acha que por isso eu não tenho legitimidade para trabalhar no tema, inclusive. Gosto de um vinho. E gosto de chocolate, adoro, é minha droga. Eu sei o que é compulsão! [Risos.] Graças a deus, minha compulsão é por algo que só me engorda. Mas ela existe, todos nós temos uma.
Há inúmeras substâncias nocivas que a gente consome livremente, né? Existe álcool, cigarro, milhões de remédios tarja preta. É curioso que ninguém fale que nos EUA as pessoas estão morrendo mais por causa de remédios controlados, que compram com receita médica, do que por drogas ilegais. A questão da política de drogas no Brasil é que hoje ela permite todas as violações dos principais direitos. Temos 56 mil mortes por ano. Isso dá 1 milhão de mortes em 30 anos.
Em que lugares no mundo estão as políticas de drogas mais interessantes hoje? Olha, na Europa – Suíça, Holanda, a própria Espanha, alguns lugares da Alemanha – há experiências com redução de danos, principalmente com usuários de heroína ou cocaína injetável, que dão muito certo. Na Nova Zelândia também. Na questão da maconha a gente está vendo desde os clubes de cannabis, na Espanha, até toda a experiência de regularização nos EUA e no Uruguai. Não aumentou o consumo, o que está aumentando é a renda do estado para investir em políticas certas. A menor estimativa é de que esse negócio da droga renda US$ 320 bilhões por ano. Você imagina se isso fosse regulado, como é na indústria farmacêutica? Nem acho que o modelo deva ser o da indústria farmacêutica, mas se isso conseguisse gerar impostos e de fato a gente aplicasse em educação, saúde, segurança… não seria muito melhor?
“Existe álcool, cigarro, remédios tarja preta. Nos EUA as pessoas estão morrendo mais por causa dos remédios controlados do que por drogas ilegais”
Qual foi a discussão mais difícil em que você já esteve? Na época da campanha do desarmamento, o debate com o deputado que eu já mencionei, foi um dia que eu cheguei no meu limite. Essas pessoas são financiadas por indústrias de armas, esses deputados da bancada da bala… Essas situa-ções, principalmente quando são homens e muito agressivos, que manipulam dados e são treinados pra fazer show, são as mais duras. Eu não tenho esse treino, eu sou treinada pra falar a verdade, mostrar dados.
E no debate sobre drogas? Isso aconteceu pra mim mais nas armas. Porque no campo das drogas os argumentos das pessoas com quem a gente tem essa oposição em geral não se sustentam. Tem dois argumentos contra a regularização das drogas: um é que as crianças vão usar drogas. Só que hoje em qualquer escola vendem-se drogas. Traficante não quer saber se a pessoa tem 9 anos de idade ou tem 60, ele quer vender. A proibição é a total liberação, este é o paradoxo que as pessoas não querem enxergar. O outro argumento que usam é que o consumo vai aumentar. E o que podemos dizer é que nos países que regularam não aconteceu explosão de consumo.
Como você se aproximou do Fernando Henrique Cardoso e essas outras lideranças mundiais?Quando eu saí do Viva Rio, trabalhando já com política de drogas, estava sendo formada a Comissão Latino-Americana Sobre Drogas e Democracia. Ela foi fundada em 2008 pelo Fernando Henrique e por outros dois ex-presidentes – o [Ernesto] Zedillo, do México, e o [Cesar] Gaviria, da Colômbia. E eu fui chamada para integrar esse secretariado.
Depois, em 2011, o Fernando Henrique chamou outros nove ex-chefes de Estado, e virou a Comissão Global. Era preciso ter um grupo desse nível, acima de qualquer suspeita, para debater política de drogas. O tabu era tão grande que, se não tivesse esse grupo chancelando a discussão, a gente não ia conseguir estar onde está hoje.
Como você se sentiu quando foi chamada? Imagina ter a oportunidade de trabalhar com três ex- presidentes e mais um monte de gente muito boa. Eram 18 membros latino-americanos. A gente não sabia nada de droga, pra ser muito honesta. Eu sabia de redução da violência. Fernando Henrique tinha uma preocupação com a questão da democracia, ameaçada na América Latina pelo narcotráfico. Era essa a pergunta dele. Outros vieram com suas próprias perguntas e a gente foi numa jornada de estudo. Com o tempo comecei a me sentir mais dona do tema. Fiquei mais técnica.
Como vocês se envolveram no documentário Quebrando o tabu? O filme deu uma virada na opinião pública, na discussão sobre drogas, não? O Fernandinho [Fernando Andrade, diretor do filme] teve a grande sacada de acompanhar o trabalho dessas comissões e então convidou o ex-presidente. Ele conta que chegou com uma lista de uns 20 argumentos pra convencer o Fernando Henrique a participar, mas já no primeiro o convite foi aceito [risos]. Fácil assim. Ele viu o que a gente estava fazendo no nível político internacional, algo que o Brasil um dia vai reconhecer. Não reconhece hoje por conta dessa polarização política, por ser o Fernando Henrique. Mas isso não tem nada a ver com PSDB, é o Fernando Henrique enquanto intelectual público, enquanto o líder global que ele de fato é. Eu acho fantástico participar de um trabalho que está mudando a opinião pública global.
E demora muito pra mudar? Demora, essas coisas não mudam do dia pra noite. Mas a gente quebrou o consenso, conseguiu mostrar que existem outras possibilidades, num debate que não existia. Então tem sido absolutamente recompensador, mesmo com toda essa divisão entre maternidade e trabalho. Quando você vê o resultado, o impacto que isso pode ter nas novas gerações, no fim da guerra às drogas, no fim de homicídios, do sistema penitenciário vigente, de toda a questão de saúde, de marginalização da juventude, na cultura, nos direitos humanos… Eu trabalho com drogas porque tem todas essas questões envolvidas.
“Eu acho fantástico participar de um trabalho que está mudando a opinião pública global”
Pra terminar de um jeito animado: eu li que você gosta de forró. Procede? Procede! Pé de serra, viu? Mas estou tão distante disso hoje, virou um sonho de consumo. Dentro deste momento da vida, neste momento político, eu perdi um pouco desses hobbies que me fazem ser a pessoa leve que eu posso ser. Tô doida pra retomar. Passar tempo com meus amigos, curtir música, ir dançar o meu forró, só vai me fazer ser uma pessoa melhor. E é a única coisa que a gente pode fazer nessa vida, né?