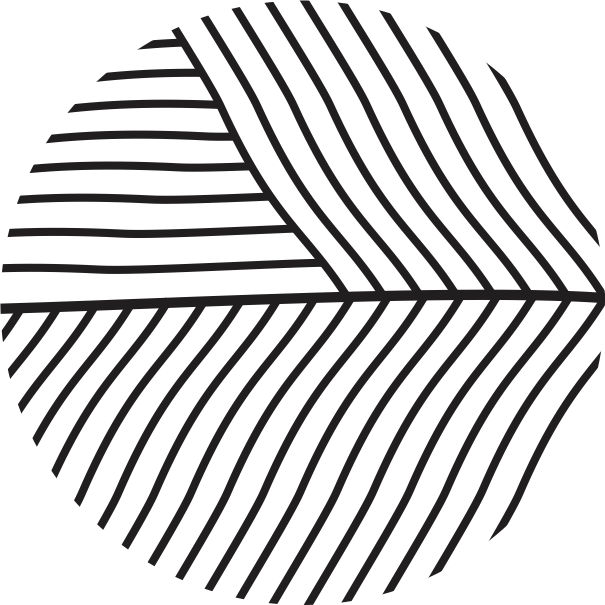O traficante e a mula: 10 anos de mulheres encarceiradas
Traficante. O português é daquelas línguas que, no geral, marcam o gênero de substantivos. Somando isso a um misto de hábito e de cansaço de ler as manchetes sobre o mais recente traficante preso, acabamos lendo esta palavra no masculino, ainda que nada mais indique tratar-se de alguém desse sexo. O traficante, o bandido, o avião, o vapor, o dono do morro. E mula? Mula é feminino.
O traficante dispensa apresentações, habita o imaginário popular brasileiro como poucos. Está geralmente sem camisa, preferencialmente de rosto baixo, na frente de um painel com logos de polícia, atrás do material apreendido na operação. Alguns quilos de droga, armas, munição, algum dinheiro. Não importa que essa imagem não chegue nem perto da realidade da maioria das prisões por tráfico de drogas no país – feitas sem trabalho de inteligência, com apreensão de pouca droga, levadas por pessoas desarmadas, não violentas.
Mas e a mula? A mula é a pessoa que, sabendo ou não se tratar de drogas, carrega essa substância. Pode ser em troca de dinheiro ou em troca da vida, sua ou de seu companheiro. Pode ser até um favor – levar a mala de presentes que o vizinho pediu para entregar ao conhecido da cidade grande, aproveitando a viagem. São, em sua maioria, mulheres.
Elas carregam quantidades razoáveis, para fazer a viagem valer à pena – pacotes em fundos falsos ou cápsulas ingeridas sob supervisão e depois recolhidas das fezes. Ou então quantidades pequenas, estrategicamente posicionadas como iscas para ocupar cães policiais enquanto o verdadeiro carregamento passa despercebido.
Para o emaranhado de verbos que juntos compõem o artigo 33 da nossa Lei de Drogas, vender ou trazer consigo não faz diferença. É crime: tráfico de drogas – prisão de cinco a 15 anos.
E sentenças acima de quatro anos não podem ser transformadas em penas alternativas à restrição à liberdade. Crime hediondo, menos ainda. Se ainda forem flagradas com muita droga, raramente receberão a redução de pena prevista para quem tem bons antecedentes e não compõe organizações criminosas, perfil no qual algumas se encaixam, apesar de a lei não falar em quantidades.
Algumas nem drogas levam. Uma jovem, apaixonadamente surda aos olhares reprovadores dos pais, não sabe muito bem no que o namorado está se envolvendo, mas anota e passa recados. “Zé, passaram pra dizer que está tudo pronto, que é pra você subir.” Ou sabe muito bem o que está acontecendo e precisa ajudar o companheiro em tempos de aperto – ele foi preso e lhe restam poucas opções para pagar o que ele está devendo -, topa fazer esses pequenos serviços. Para a lei, é associação – artigo 35 nelas.
Mas quem são essas mulheres? São sobretudo negras e pobres, mães de filhos pequenos e chefes de família. Eram responsáveis por seu sustento, foram presas em flagrante, às vezes na frente das crianças, cujo destino não temos como saber. Alguém lembrou de acionar o Conselho Tutelar para avisar a parentela?
Parece até que elas se tornam fantasmas. Não recebem visitas e nem absorventes em seu pacote de higiene básica. Passe na frente de uma penitenciária masculina e verá filas – até mesmo barraquinhas vendendo sabonete, para a mãe que saiu correndo e esqueceu a sacola em cima da mesa ter uma segunda chance de garantir algum conforto ao filho preso. A penitenciária feminina é um deserto. Não que a penitenciária masculina seja um passeio. Mas mulheres dando a luz na solitária é outro nível de violação.
Até temos leis e dispositivos internacionais que garantem o direito de mulheres gestantes ou com filhos pequenos a responderem a processos e cumprirem pena em liberdade. Entendem que privar uma mãe de sua liberdade é punir a família toda, que o efeito sobre a sociedade é desproporcional. Mas poucos os conhecem e menos ainda os aplicam.
Nossa atual lei de drogas completa 10 anos. E são 10 anos de um progressivo aumento da população carcerária no país, em muito movido pelo aumento do encarceramento por crime de tráfico. Desde outubro de 2006, o número de crimes relacionados a drogas reportados entre a população presa cresceu 18% ao ano.
E, com isso, estamos resolvendo o tal “problema das drogas”? Será que uma mãe hoje sente mais segurança de que seu filho não vá usar drogas do que há dez anos? E de que, se ele usar, vai receber a ajuda necessária? E de que ele não vai ser morto num confronto policial? E de que ele, escolhendo ser policial, não vai ser morto? E será que não há uma outra maneira de lidar com tudo isso?
Felizmente, já estamos iniciando uma conversa sobre o assunto. Começamos a perceber que prisão não é a única resposta cabível para quem comete crimes, ainda mais para pessoas que, além de não representarem perigo para a sociedade, são, no limite, irrelevantes na estrutura do crime organizado. Substituíveis.
Mas não podemos esquecer, como já fazemos nos dias de visita, das mulheres. Podem até ser minoria em números absolutos, pouco mais de 37 mil dos 620 mil presos no Brasil, mas vem aumentando em ritmo assustador a quantidade de mulheres presas. É esmagadora a diferença do impacto da Lei de Drogas sobre as elas: se, em cada 10 homens presos, menos de três estão lá por tráfico de drogas, em cada 10 mulheres, são quase sete.
E, para cada uma delas, temos que nos perguntar: qual a justiça servida quando as prendemos? Descontadas as injustamente acusadas, presas com polvilho que a polícia cismou ser cocaína, as demais realmente violaram a lei. Mas precisamos violá-las tanto em retribuição?
Por Ana Paula Pellegrino
Artigo de opinião publicado em 17 de outubro de 2016
Folha de S. Paulo