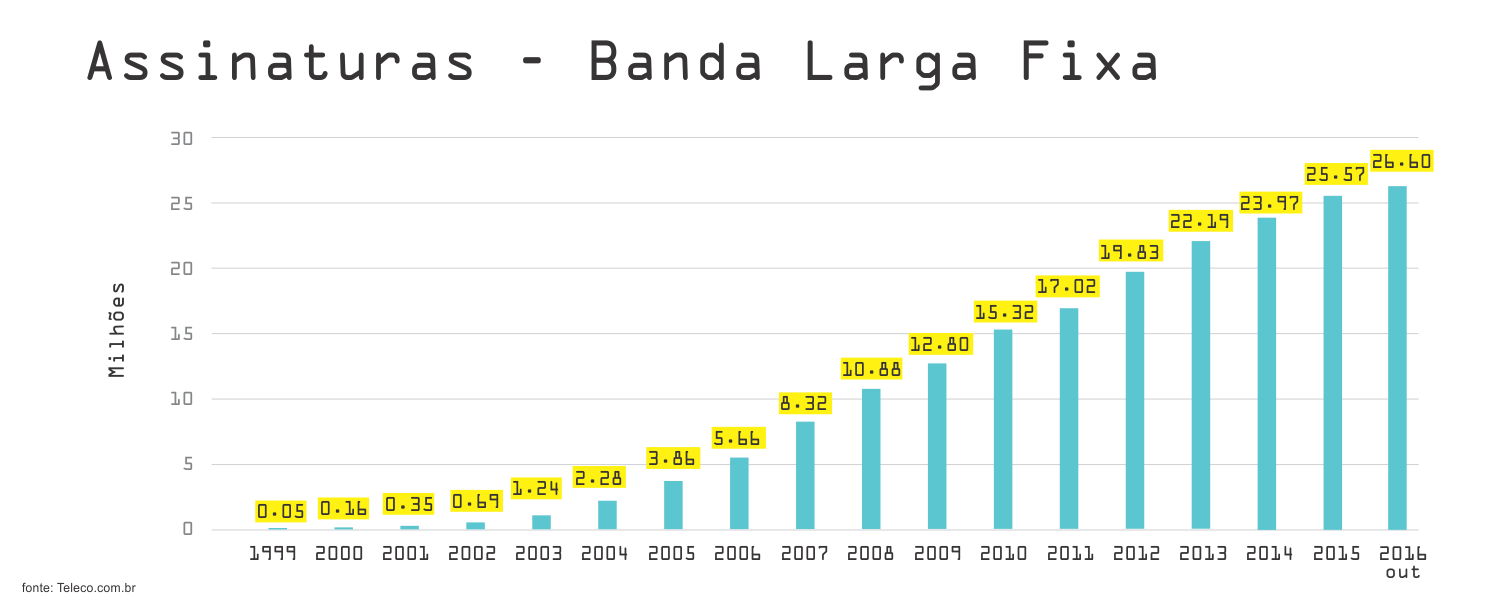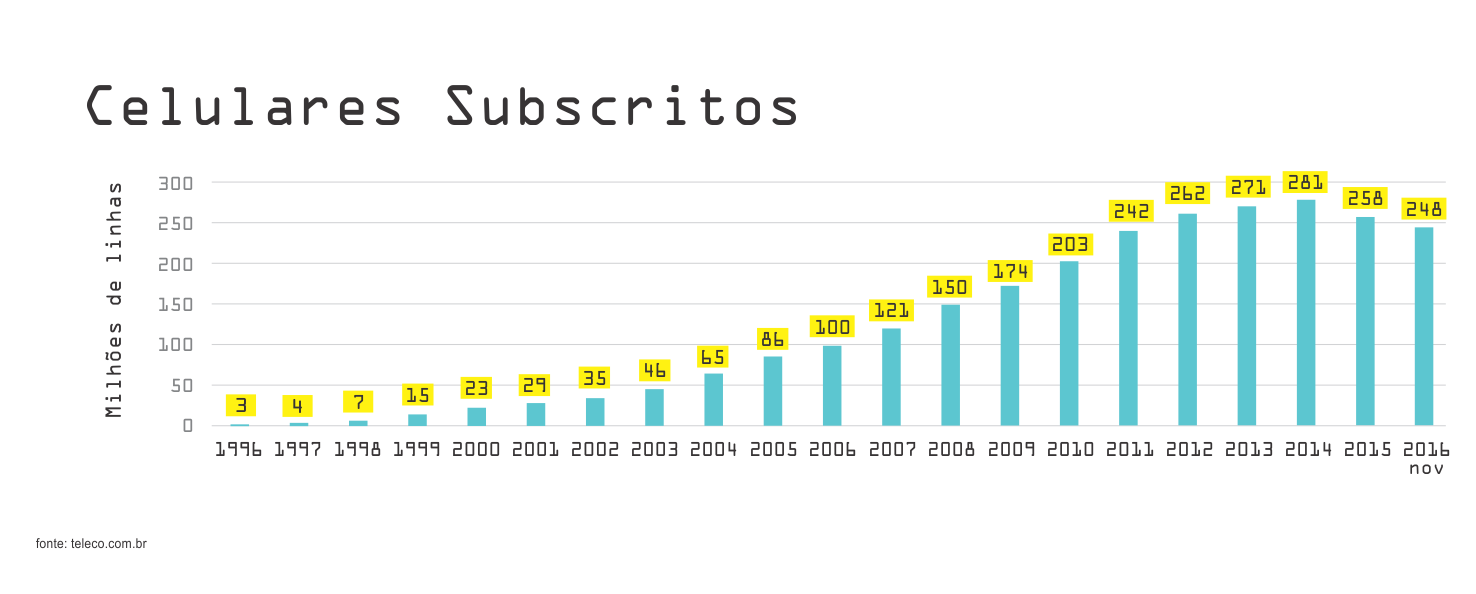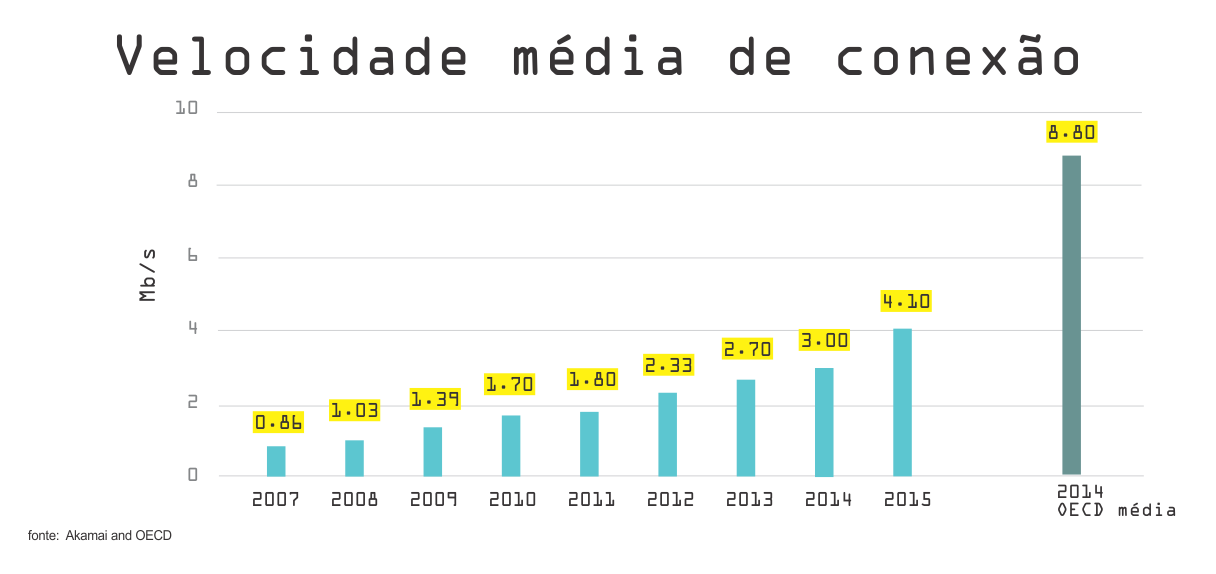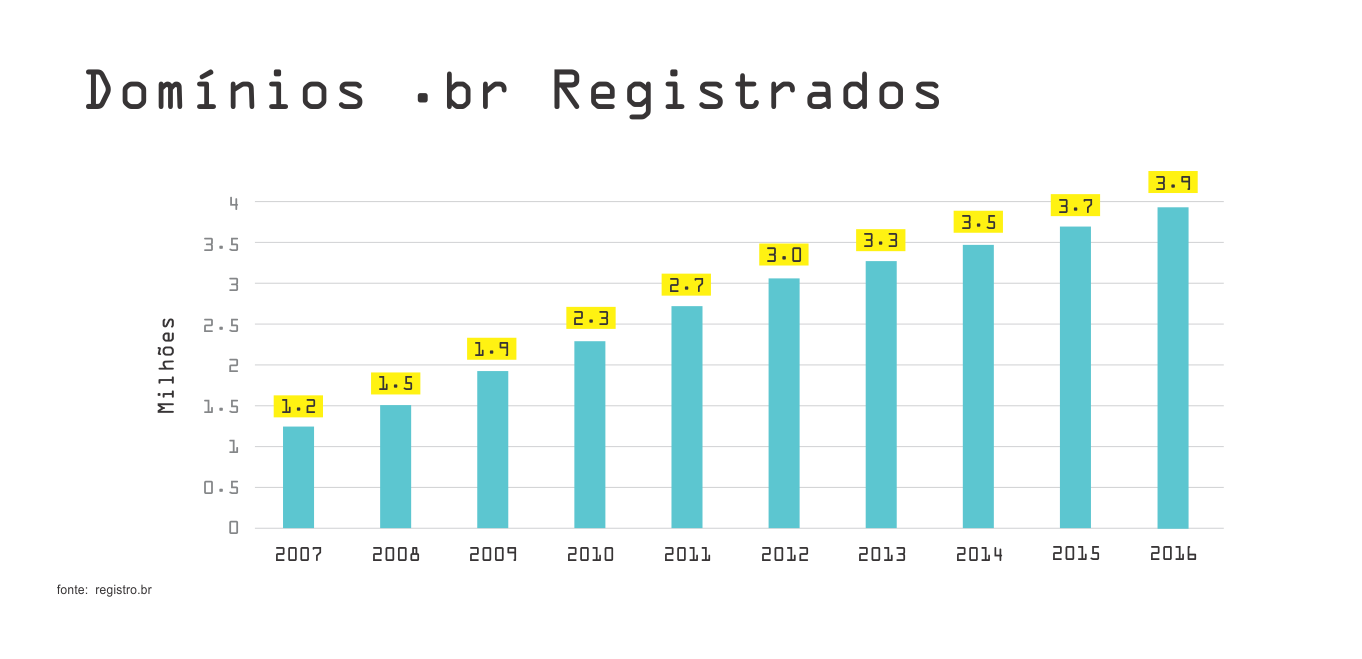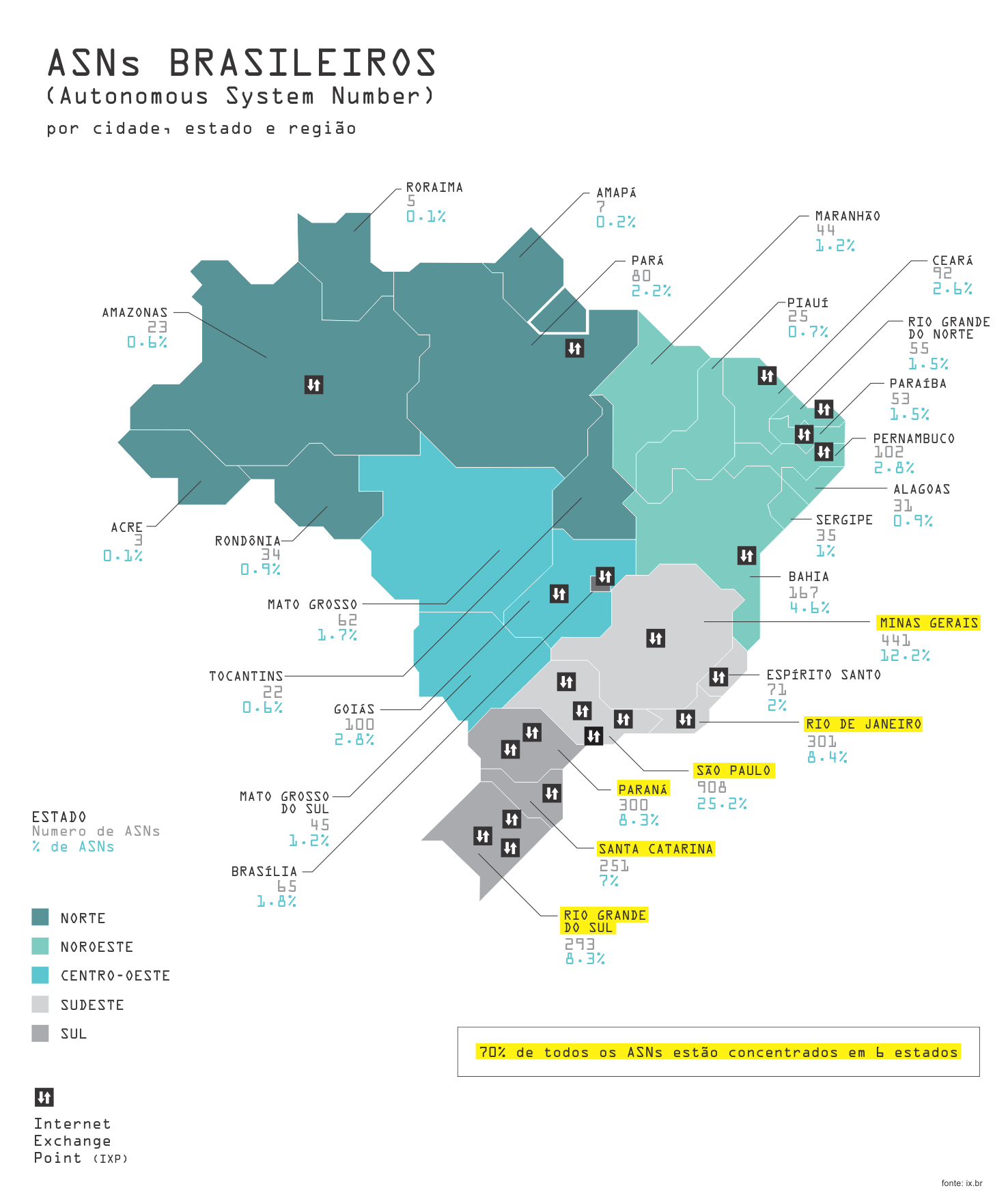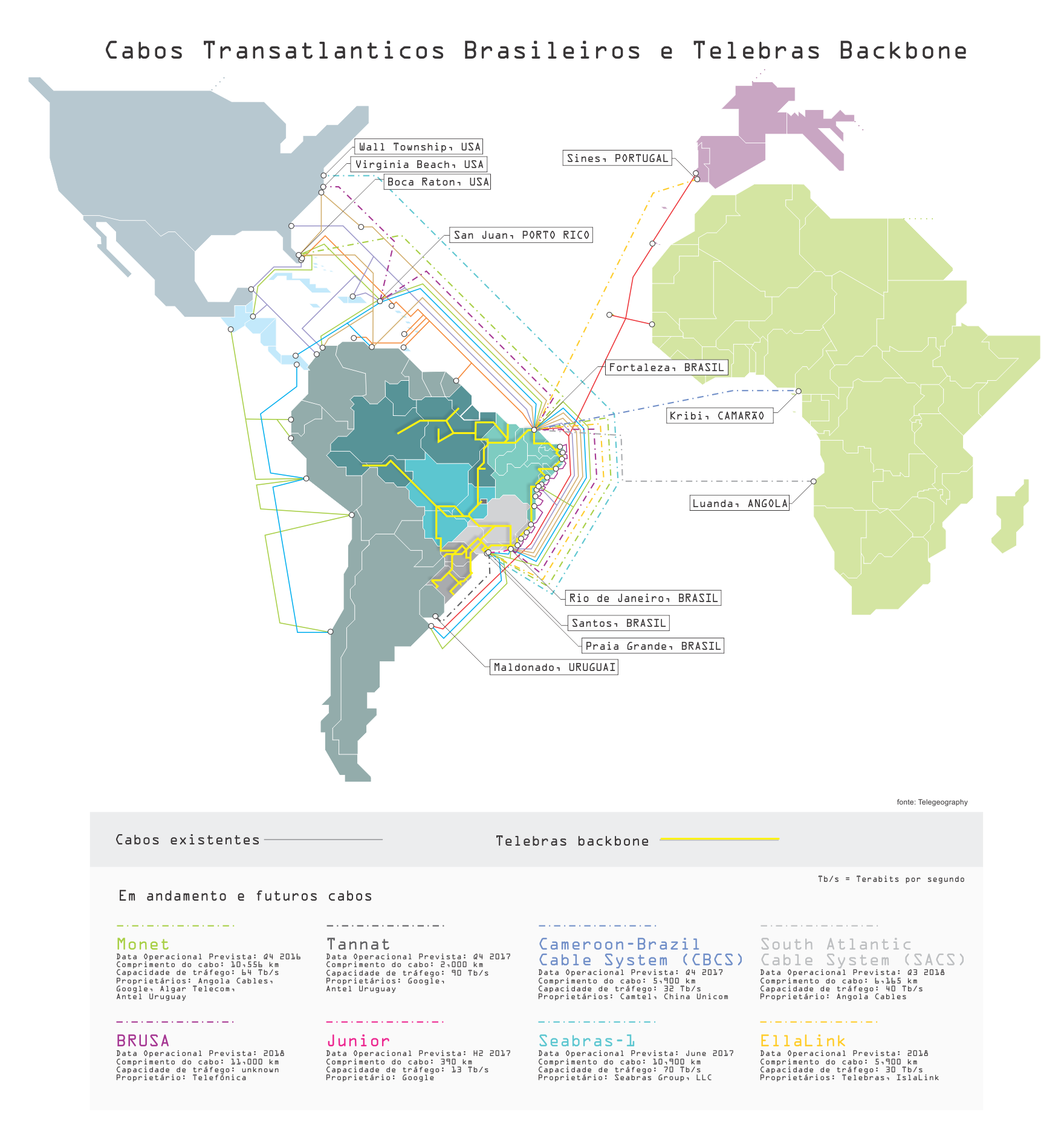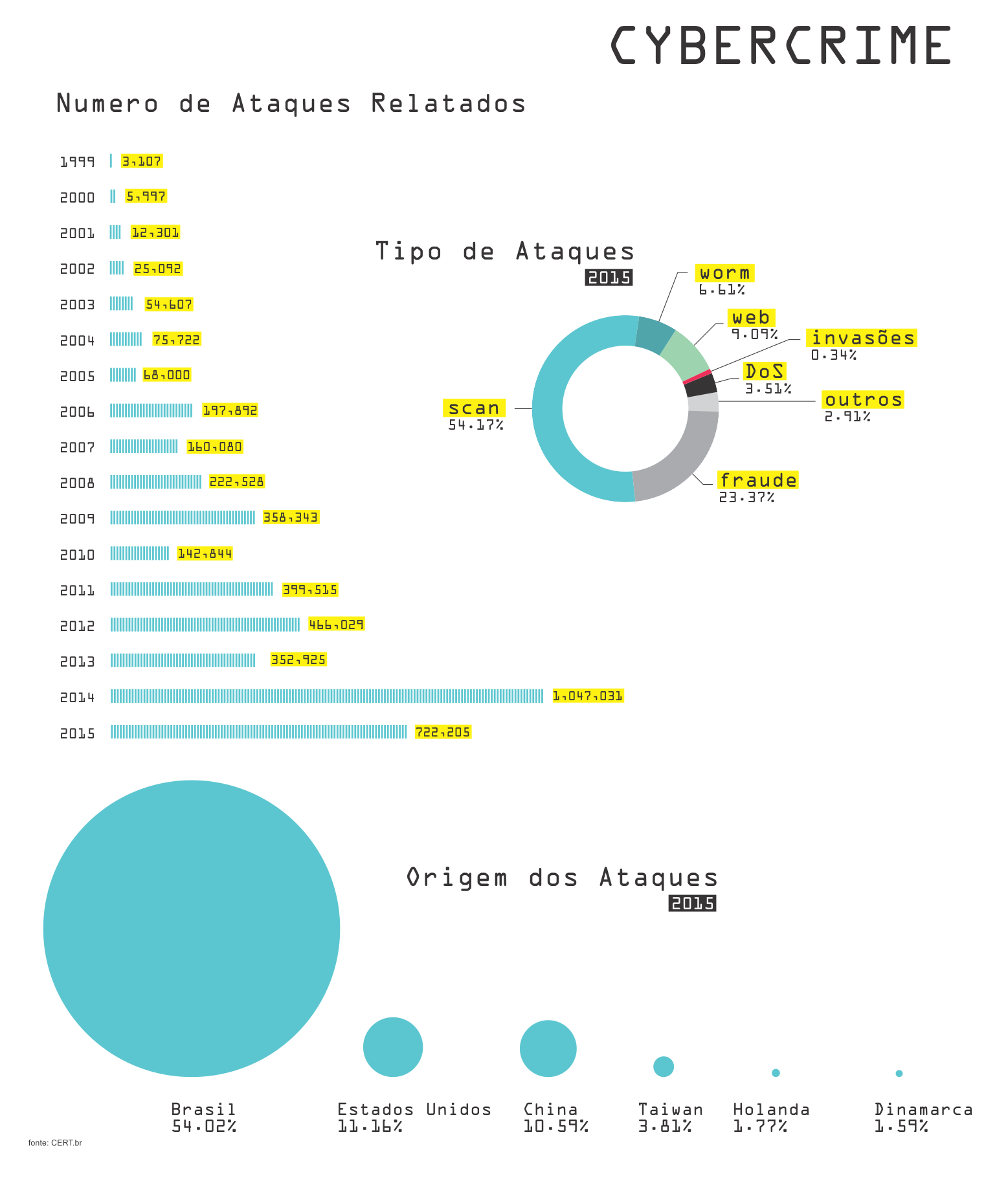A lei do MCI é fundamentalmente uma constituição digital. Seus artigos iniciais declaram que os princípios democráticos de liberdade, privacidade e direitos humanos são igualmente aplicáveis no ciberespaço. Em particular, os artigos 2º e 3º expressam esses princípios de direitos civis e estabelecem como fundamentos do uso da internet o “reconhecimento da escala mundial da rede”, bem como o pluralismo, a diversidade, a abertura e a colaboração, e direitos econômicos como livre-iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Os direitos civis assumem precedência na linguagem legislativa, mas a livre-iniciativa e novos modelos de negócio também são encorajados “desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei”
O direito à privacidade também é garantido pela lei. Dados pessoais são protegidos “na forma da lei”, mas é assegurada a responsabilização de cidadãos e organizações, públicas e privadas, de acordo com suas atividades. No artigo 7º, esse direito à privacidade é definido como a “inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei”. Carlos Affonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), no Rio de Janeiro, participou do processo ao longo do desenvolvimento do MCI na condição de acadêmico de direito no CTS-FGV. Ele descreve como o artigo 7º se tornou uma reação direta às revelações por Snowden da espionagem da NSA, e como não foi esse o caso inicialmente:
Antes de mais nada, é importante entender que o MCI não foi concebido como ferramenta para tentar lidar com os programas de Snowden [...] Por causa do escândalo, o MCI foi mudado de várias maneiras. O artigo 7º incluiu a privacidade e a proteção de dados, não apenas por causa das revelações de Snowden. [O deputado] Molon percebeu na época que o Ministério da Justiça havia tentado incluir a proteção de dados desde 2010 e não acontecera nada muito importante. Na época, o Marco Civil parecia um projeto com chance de ser aprovado, então eles pensavam que podiam adotar algumas normas do projeto de proteção de dados. Uma das principais mudanças feitas está relacionada à proteção de dados e ao artigo 7º.
Alessandro Molon, deputado federal e patrocinador do Marco Civil, usou uma manobra legislativa para inserir no artigo 7º normas que obrigariam a polícia a obter ordem judicial para poder violar o sigilo das comunicações de usuários.
Em 2015, um bloco conservador no Congresso reagiu contra essa medida, ao mesmo tempo em que o governo continuava a determinar como o MCI deveria ser implementado. O que começou como um projeto de lei para punir “crimes de honra” (como comentários caluniosos ou difamatórios em redes sociais) tornou-se um veículo para um ataque às normas de privacidade do MCI – conhecido formalmente como PL 215/2015 ou PL Espião. Membros da oposição propuseram revisões no Código Civil e no MCI que exigiriam que empresas de internet armazenassem dados de usuários como nome, endereço residencial, e-mail e CPF. Além disso, autoridades policiais não precisariam mais obter ordem judicial para receber essas informações.
Esperava-se também que o PL 215 incluísse na lei uma variação do “direito a ser esquecido” europeu. Ele diferiria da legislação europeia, porém, onde o conteúdo ofensivo é excluído de mecanismos de busca como o Google. Nesse caso, se exigiria que a empresa que hospeda o conteúdo o removesse de seus servidores, baseada em informações que ela coleta sobre cada usuário, como nome verdadeiro, número de identidade nacional e endereço residencial. Affonso, do ITS, caracterizou esse debate como “uma conversa em andamento refletida em discussões sobre toda a proposta de legislação do MCI. Um lado está buscando ter uma legislação orientada pelos direitos humanos no Brasil, mas há repetidas tentativas de reabrir a discussão”. Molon disse de forma até mais simples: “Se fosse aprovado dessa forma, o PL 215/2015 praticamente destruiria o sigilo de dados”.
Em abril de 2016, quando a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Rousseff e surgiu uma investigação de corrupção contra membros do alto escalão de seu governo e da oposição, a CPICiber emitiu um relatório recomendando uma série de projetos de lei controversos, aparentemente relacionados a crimes cibernéticos. Esses projetos incluíam propostas que possibilitariam a expansão da retenção de dados de usuários por aplicativos e provedores de internet (PL 3.237/2015), ou dariam acesso a endereços de IP em investigações criminais sem mandado judicial (PLS 730/2015). O PL 5.204/2016 permitiria o bloqueio de sites na zona da raiz. Outro projeto poderia penalizar pesquisadores de segurança online por testarem softwares maliciosos. O PL 5.203/2016 aumentaria as penas por violação de copyright e para sites que não removessem rapidamente conteúdo ilegal. Os autores do MCI excluíram especificamente da lei o copyright– e ele continua a ser uma parte da legislação brasileira que precisa de reforma –, mas os membros da CPI parecem determinados a adotar um entendimento punitivo. Essa abordagem estaria alinhada com regulações de imposição de copyright mais extremas, como a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (Digital Millenium Copyright Act – DMCA) dos Estados Unidos.
Finalmente, a CPICiber propõe pagar essas iniciativas apropriando-se de dinheiro que é geralmente destinado ao desenvolvimento de infraestrutura para apoiar o acesso universal à internet (o fundo de telecomunicações Fistel) e realocando-o para investigações policiais e outras operações de segurança. O ambicioso escopo dessas propostas, que buscam modificar aspectos já implementados do MCI, realça o desejo da comissão de retomar os objetivos mais punitivos do projeto de crime cibernético que inspirou o MCI (isto é, a Lei Azeredo). Como uma constituição digital, um objetivo fundamental do MCI era contestar a abordagem penal dos crimes cibernéticos com a construção de uma estrutura legal mais ampla que definisse direitos e responsabilidades para pessoas e organizações.
Abramovay descreveu essa estrutura e o ponto de vista do ministério:
Nossa posição era contrária a uma legislação criminal punitiva e a perspectivas de controle repressivo sobre muitas questões – de penas alternativas a política de drogas e muitas outras. O processo [do MCI] fazia parte dessa perspectiva, a perspectiva de direitos civis para a legislação criminal. Como assumimos essa posição, a sociedade civil se aproximou de nós durante o processo, e não tínhamos nenhuma expertise particular no ministério para discutir questões de internet e telecomunicações
Mais tarde, o Ministério da Justiça trabalhou com o Ministério da Cultura para desenvolver o sistema open source online que esboçou o projeto, e consultou de perto o CTS-FGV sobre o texto inicial e a integração dos comentários e os retornos subsequentes. Grupos que sustentam posição de controle repressivo têm o apoio dos aliados do presidente Temer no Congresso; os projetos da CPI sobre Crimes Cibernéticos, o PL 215/2015 e contestações à implementação integral do MCI são todos indicadores dessa oposição continuada.
Grupos da sociedade civil brasileiros e internacionais criticaram essas propostas e as respectivos contestações à lei, entre elas as recomendações da CPICiber. Uma carta aberta ao Congresso brasileiro, assinada por organizações brasileiras e internacionais, da Access Now e da Electronic Frontier Foundation ao ITS, ao CTS-FGV e ao Instituto Igarapé, enunciaram as principais preocupações:
os projetos de lei propostos no relatório da CPI de Cibercrimes, assim como outras medidas incluídas no relatório, criminalizam práticas cotidianas dos usuários da internet sob o pretexto de combater os crimes cibernéticos. Exigimos que o Congresso brasileiro continue defendendo a liberdade na internet e que recuse os projetos de leis propostos para que possamos continuar avançando na proteção de uma internet livre e aberta.
Por outro lado, o MCI não traz descrições explícitas de penalidades, métodos e salvaguardas aos usuários para proteção de dados pessoais, cujo desenvolvimento é prerrogativa legal do presidente da República. Dados são a moeda de nossa época; são o sangue vital de quase todos os países e empresas, da China ao Facebook. É, portanto, decisivo que haja discussões e debates abertos sobre como os dados são definidos e codificados no sistema legal de um país. Como devem as empresas abordar e lidar com dados? O que as organizações devem fazer para proteger dados, como os usuários podem assegurar que eles sejam armazenados de forma apropriada e como a lei faz a distinção entre os diferentes tipos de informação digital (p. ex., informação anônima, informação pessoal ou metainformação)?
No começo de 2015, o Ministério da Justiça começou a receber comentários públicos sobre uma versão preliminar de uma lei para proteção de dados. O governo recebeu 1.200 comentários de uma ampla variedade de grupos, entre eles empresas do setor privado, organizações sem fins lucrativos e cidadãos individualmente. Depois do período de comentários abertos, a legislatura passou a desenvolver suas próprias propostas voltadas à proteção de dados. Senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia e outro senador que presidiu a comissão que investigou a espionagem no país em 2014 desenvolveram versões da lei. O objetivo desses esforços é evitar a comercialização e o uso indevido de dados pessoais.
Em 12 de maio de 2016, o mesmo dia em que o Senado aprovou o julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff e a afastou do cargo, ela enviou uma nova versão do projeto de lei de proteção de dados (PL 5.276/2016) a duas comissões da Câmara dos Deputados: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Esse projeto de lei sancionaria o uso de dados apenas com permissão de usuários da internet e para a execução de propósitos específicos definidos por eles. O projeto também propõe a criação de uma autoridade para implementar e monitorar um regime de proteção, fornecendo aos usuários mecanismos para informar violação da regulação. O gabinete de Dilma observou que uma proposta como essa, de uma nova administração burocrática, era prerrogativa da Presidência, sugerindo mais uma razão para seu encaminhamento ao Congresso com caráter de urgência naquele dia. Grupos da sociedade civil apoiavam amplamente o novo projeto, que foi elaborado integrando demandas e comentários públicos por proteções robustas da privacidade.
Questões de proteção de dados, privacidade e segurança são anteriores à aprovação do MCI. Em termos de penalidades por descumprimento, a proposta de proteção de dados de Dilma apresentada em maio é mais forte e definida de modo mais detalhado do que propostas anteriores, como o PL 4.060/2012 ou as versões do Senado. Duas leis de cibersegurança estão diretamente ligadas ao MCI – a Lei Azeredo (lei 12.375/2012) e a Lei Carolina Dieckmann (lei 12.737/2012). Essa última recebeu o nome da atriz cujas fotos nuas foram vazadas na internet depois que hackers invadiram seu computador pessoal; a primeira é uma modificação geral do Código Penal para especificar crimes eletrônicos e recebeu o nome do senador Eduardo Azeredo, patrocinador e defensor da lei desde 1999. O próprio MCI foi, em parte, uma resposta crítica à lei de cibersegurança do senador Azeredo. Como ocorreu com propostas mais recentes, como o PL 215/2015, juristas e grupos da sociedade civil criticaram o projeto de Azeredo por ser demasiadamente punitivo e concentrado em proteger os interesses dos ricos e poderosos. A lei sancionou maiores penalidades para crimes contra figuras públicas, como políticos e empresários ricos.
Enquanto essa proposta de lei de cibersegurança estava sendo debatida em 2007, Ronaldo Lemos, acadêmico de direito e cofundador do Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio, publicou um editorial amplamente lido que deu a partida no processo do MCI. Lemos argumentava que os legisladores não podiam definir crimes da internet no código penal sem direitos e responsabilidades correspondentes para cidadãos individualmente, empresas e órgãos do governo online. Segurança, preocupações com intervenção governamental excessiva e direitos digitais online estiveram desde o início no cerne da legislação preliminar.
A despeito disso, as duas leis de segurança foram promulgadas em 2013, um ano antes do MCI. A aprovação delas foi motivada em grande parte pelas fotos vazadas de Dieckmann e pela subsequente cobertura da mídia. A Lei Dieckmann trata de invasões de privacidade e da proteção de dados pessoais, tornando crime “obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”. O estatuto contém linguagem que eleva penas por descriptografar ou acessar comunicações eletrônicas privadas que sejam segredos comerciais, industriais ou informações definidas pelo governo como sigilosas, aumentando significativamente as multas e o tempo de reclusão para esses crimes. Interromper ou perturbar qualquer tipo de telecomunicação é agora ofensa sujeita a sanção, punível por meio do Código Penal.
No entanto, essas leis realçam as contradições entre fortes proteções da privacidade e a criminalização do comportamento online. A Lei Dieckmann, em particular, faz uma distinção entre dados pessoais e dados possuídos pelo governo e por empresas privadas. Essa é uma preocupação de legisladores, que às vezes usam leis como a Dieckmann e o PL 215/2015 para ganhar proteção legal especial como figuras públicas. O chamado “direito ao esquecimento” é um exemplo disso. “Há pelo menos cinco projetos que foram apresentados no Congresso [em 2015], e nenhum deles exclui políticos ou autoridades do escopo do direito ao esquecimento”, observou Affonso em uma entrevista. Em 2016, enquanto batalhas sobre corrupção e impeachment ganhavam muita visibilidade, os políticos se mostraram particularmente ansiosos para ter maneiras de proteger sua imagem online. Lemos, um dos principais redatores do MCI, diz que esses tipos de mecanismo de proteção legal não têm lugar em uma democracia: “Nos países democráticos (e também no Brasil), as pessoas públicas, especialmente aquelas que exercem cargo público, têm seus direitos de proteção à honra reduzidos. É vital que seja assim, justamente para permitir o escrutínio permanente”.
Ao mesmo tempo, o Judiciário e a polícia, apoiados por parlamentares conservadores, têm defendido maior acesso a dados de usuários por qualquer meio necessário. Durante as deliberações para redigir o MCI em 2014, parlamentares propuseram uma norma que obrigaria todas as empresas multinacionais de internet a armazenar dados em servidores localizados no Brasil. Embora no fim essa iniciativa tenha sido derrotada, ela espelhava propostas apresentadas em países como Rússia e Turquia, que têm caminhado para sistemas de governo mais autoritários.
Os objetivos concorrentes em torno da privacidade dos usuários e de políticas de segurança pública ganharam as manchetes em dezembro de 2015, quando um juiz de São Paulo ordenou o bloqueio do sistema de mensagens instantâneas WhatsApp por 48 horas porque a empresa proprietária do WhatsApp, o Facebook, se recusou a entregar dados de usuários para investigações de tráfico de drogas e crime organizado. Um tribunal de nível superior derrubou a decisão menos de treze horas depois, mas o episódio demonstrou como os investigadores estão determinados a obter acesso a comunicações pessoais. Membros da polícia encontraram aliados nas empresas de telecomunicações que têm de responder a pedidos de dados ordenados por tribunais; as operadoras de telefonia celular brasileiras veem cada vez mais o WhatsApp – e outros serviços de mensagem over-the-top (OTT), como o Telegram – como uma ameaça ao envio de mensagens tradicional por SMS, pelo qual elas cobram tarifas e são fortemente reguladas. No passado, grupos como Vivo (de propriedade da Telefonica, da Espanha) e Oi entraram com recursos judiciais contra bloqueios desse tipo, mas quando ocorreu o bloqueio do WhatsApp, em dezembro de 2015, só a Oi recorreu contra a medida.
Em 2015, o presidente e CEO da Telefônica Brasil, que é proprietária da Vivo, chamou o WhatsApp de “pirataria no pior sentido”, criticou seu modelo de negócio como parasitário do investimento das operadoras de telecomunicações nas redes e exigiu que a Anatel regulasse esses serviços como faz com as operadoras que fornecem SMS ou telefonia tradicional. Marília Maciel, diretora do CTS-FGV na época, disse em uma entrevista que regular esses serviços desse modo conflitava com o princípio de neutralidade da rede e outras provisões do Marco Civil:
Ao pedir que as operadoras de telecomunicações bloqueiem o WhatsApp, o juiz as colocou em uma situação difícil. Com cada bloqueio, as operadoras podem estar violando os princípios de neutralidade da rede. Foi uma decisão muito infeliz. Ela não atendeu aos princípios básicos de proporcionalidade e impediu a capacidade dos cidadãos brasileiros de se comunicarem livremente. Esse é um problema real que precisa ser enfrentado [...] é um incentivo para que as autoridades públicas digam “vamos localizar os dados”.
Esse conflito ficou mais pronunciado no ambiente político de discórdia e com um novo presidente com objetivos de políticas públicas e prioridades diferentes. Quando a CPICiber debatia a versão final de seu relatório sobre crimes cibernéticos, em abril, um juiz no estado de Sergipe ordenou outro bloqueio do WhatsApp – dessa vez por 72 horas. O ato e o protesto de grupos defensores de direitos digitais levaram a comissão a incluir linguagem prevenindo o bloqueio generalizado de redes sociais e até restringindo aspectos do MCI que impõem penalidades de bloqueio da rede a empresas de internet que não cumpram ordens judiciais.
As modificações, porém, não alteraram a natureza punitiva das leis recém-propostas, nem tratam da autoridade potencialmente estendida da polícia para investigar e bloquear usuários online. Alguns grupos da sociedade civil argumentaram que essa ordem violava as normas de neutralidade da rede do MCI, no sentido de que ela bloqueava um tipo específico de tráfego; um juiz recursal rescindiu o bloqueio depois de 24 horas, antes, portanto, das 72 horas determinadas pela ordem judicial original. Em março, outro juiz em São Paulo havia tentado uma abordagem diferente, mandando prender por um breve período Diego Dzodan, o vice-presidente do Facebook para a América Latina, em mais um esforço para obrigar o WhatsApp a fornecer dados para uma investigação criminal em curso. Em julho, o WhatsApp foi bloqueado pela terceira vez em sete meses, por uma juíza no estado do Rio de Janeiro, embora o serviço tenha sido restabelecido quando a ordem judicial foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do que ocorreu nos dois bloqueios anteriores, a juíza do Rio de Janeiro não determinou a entrega de registros de comunicação prévios, mas o monitoramento em tempo real de comunicações criptografadas de um suspeito, demonstrando uma falta de entendimento de como funciona o envio de mensagens com criptografia ponta a ponta (end-to-end). A ação da juíza suscitou pedidos de um diálogo mais aberto entre o Ministério da Justiça e grupos de defesa de direitos digitais sobre as leis que regulamentam essas interceptações e a natureza da tecnologia utilizada.
Esses bloqueios judiciais e a detenção de um executivo do Facebook realçam a natureza contenciosa do atual ambiente no Brasil e a resistência de muitos agentes políticos, judiciais e policiais a aceitar novos sistemas de criptografia impostos por empresas estrangeiras em seus produtos. O WhatsApp vinha integrando regularmente um novo backbone de criptografia ponta a ponta desde as revelações de Edward Snowden sobre a atividade de espionagem da NSA, em 2013. A empresa aprofundou significativamente sua expertise nessa área contratando criptógrafos da Open Whisper Systems (desenvolvedores do aplicativo de mensagens preferido de Snowden, o Signal), tendo concluído sua implementação em várias plataformas para seus bilhões de usuários em abril de 2016. A despeito do compromisso da gestão de Dilma Rousseff com uma criptografia mais forte e sistemas alternativos dentro do governo como uma cunha contra a dominância dos Estados Unidos nas redes internacionais, membros de seu governo, a polícia, a oposição e membros do Judiciário continuaram a questionar os princípios de privacidade, liberdade de expressão e direitos civis na busca de garantir maior segurança.
Uma luta entre forças políticas, serviços de segurança e sociedade civil está embutida na história do MCI. Ela começou com debates sobre o projeto de lei de Eduardo Azeredo na década de 1990 e continuou em batalhas sobre a implementação do MCI, com argumentos particularmente contenciosos entre as operadoras de telecomunicações e empresas de internet como Facebook, WhatsApp e Google sobre proteção e localização de dados, e repetidas tentativas do Congresso de emendar artigos da lei dedicada à privacidade. O escândalo das interceptações da NSA animou a causa dos defensores dos direitos humanos e da privacidade, reforçando as normas fundamentais da legislação em discussão, mas, quando o escândalo perdeu força e a gestão de Dilma fez as pazes com o governo americano, a presidente pareceu indisposta a defender publicamente maiores direitos de privacidade. Ao mesmo tempo, a oposição a ela cresceu e paralisou completamente o governo no momento do afastamento de Dilma do cargo, em maio de 2016. Reagindo diretamente ao bloqueio do WhatsApp, membros do Congresso propuseram novos projetos de lei (como o PL 5.172/2016 e o PL 5.130/2016) que proibiriam a suspensão de redes sociais, integrando sugestões da CPICiber. Uma proposta mais recente contestou a constitucionalidade do artigo 12 do MCI, que exige a suspensão de serviços que não cumpram a guarda e a disponibilização de dados em casos de solicitações de órgãos policiais, tal como definido nos artigos 10 e 11. Alguns legisladores e juízes disseram que esses artigos poderiam ser usados para justificar futuros bloqueios. Finalmente, uma proposta que circulou no final de 2016 (PL 5402/16) daria justificativas legais para o bloqueio de redes sociais por qualquer crime punível com mais de dois anos de prisão. Ela é particularmente promovida por detentores de copyright como um meio de tirar do ar redes sociais por veiculação de conteúdo não autorizado. Embora o MCI não trate de copyright, ele continua a ser uma preocupação importante do setor privado e de suas organizações comerciais, apoiados pelo governo Temer.
No Seminário sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, realizado em agosto de 2016, Carlos Affonso, diretor do ITS, comentou que, a seu ver, o MCI não sancionava esse tipo de bloqueio. “A sanção de que trata o artigo 12 é dessas atividades [coleta, armazenamento, guarda e registro de dados pessoais ou de comunicações, atos previstos no artigo 11], e não a suspensão completa do aplicativo como um todo”, ele observou. “Ainda que se entenda que poderia ter através do poder de cautela do juiz a suspensão ou o bloqueio do aplicativo, o poder geral de cautela do juiz precisa passar por um teste de proporcionalidade. Não é também um poder absoluto. Assim, você tem duas formas de tentar bloquear as tentativas de bloqueio: ele não aparece no Marco Civil e como recorrer ao poder geral de cautela do juiz precisa passar por um teste de proporcionalidade”, complementou. Affonso também disse que o presidente do Supremo Tribunal Federal suspendera rapidamente os bloqueios, julgando que eles não eram proporcionais e infringiam o direito de liberdade de expressão de milhões de brasileiros. Em outubro de 2016, o ITS ingressou com uma petição de amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, argumentando que esses bloqueios judiciais de aplicativos e serviços na camada da infraestrutura da internet são uma violação direta do MCI.
Ao longo de 2015, o Brasil testemunhou impulsos concorrentes para adotar infringência de copyright e dar a promotores mais poder para executar investigações e ao mesmo tempo permitir a liberdade de expressão e evitar bloqueios em larga escala, como no caso do WhatsApp. Nessa atmosfera, os rivais de Dilma Rousseff no Congresso, apoiados por membros do Judiciário, da polícia e dos serviços de inteligência, consolidaram seus esforços para reduzir as proteções à privacidade do MCI com o PL 215/2015, a CPICiber e a resistência a certos aspectos da implementação do MCI.