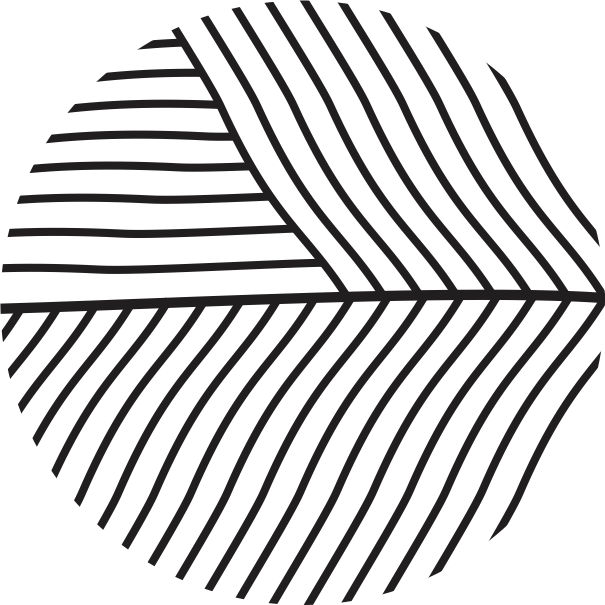A violência no Rio de Janeiro: um conto de duas cidades
Julho, 2017
O Rio de Janeiro tem uma beleza selvagem. A elegante Zona Sul – que inclui Ipanema e Leblon – é cercada de montanhas verdejantes. Mas a cidade é marcada por assentamentos informais muito pobres, as conhecidas favelas. Trata-se de uma das cidades mais desiguais do mundo, com apartamentos multimilionários ladeados por moradias decrépitas. Níveis extremos de fragmentação e segregação urbanas, que impulsionam altos níveis de criminalidade e vitimização.
Há uma percepção crescente entre os moradores do Rio de Janeiro de que a cidade está em guerra, com evidências claras do aumento da criminalidade, homicídios, agressões e roubo de carros. Os males vêm disparando nos últimos anos. Isso não surpreende de maneira alguma, sendo o Brasil o país mais violento do mundo – responsável por uma em cada 10 mortes no planeta. Pesquisas apontam que um em cada três brasileiros com mais de 16 anos alega ter um familiar, amigo ou conhecido que foi morto de maneira violenta.
Entretanto, nem todos os brasileiros vivenciam a violência da mesma maneira. Seguramente, mais de 80% dos moradores do Rio de Janeiro acreditam estar sob o risco de serem assassinados nos próximos 12 meses. Uma análise mais apurada das estatísticas sugere, porém, que cerca de metade de todos os homicídios acontecem em apenas dois por cento dos quarteirões da cidade. E esses quarteirões, em sua maioria, estão localizados em áreas sujeitas rotineiramente a operações policiais agressivas e, não por acaso, são cotidianamente palco de lutas entre facções de traficantes.
Relativamente a salvo por trabalhar na Zona Sul do Rio de Janeiro, encarei recentemente o lado sombrio da cidade. Numa noite de segunda-feira, fui abordada por dois jovens, que acabavam de descer de uma das favelas das encostas do emblemático bairro de Copacabana. Sozinha e acuada, tive de responder a uma pergunta direta: “o que é mais importante? Seu celular ou sua vida?”.
“Minha vida”, respondi. E continuei: “mas como vocês se chamam?”.
Ao perguntar seus nomes, descobri uma ponte inteiramente nova e inesperada entre os dois mundos do Rio de Janeiro. João e Marcelo, que buscavam me liberar de meu celular, ficaram atordoados. Percebendo minha vantagem, fiz outra pergunta: “por que vocês estão me roubando? ”. O clima mudou. João respondeu, enquanto jogava areia nos meus pés, que era assim que funcionava a vida das ruas. Então eu perguntei se podíamos achar uma solução melhor para a nossa situação. Sorrindo, João sugeriu que eu lhes comprasse o jantar. E acrescentou rapidamente que “eles estavam apenas brincando”.
Para não desperdiçar nosso dinheiro nos restaurantes caros da orla de Copacabana, Marcelo sugeriu uma opção mais em conta, jantar em outro lugar. Conforme caminhávamos, João pedia a desconhecidos informações sobre o caminho, revelando que era, como eu, uma espécie de estrangeiro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Horas depois, 100 reais mais leve, mas com meus pertences e meu corpo intactos, voltei para a minha realidade, mas com pensamentos renovados. João e Marcelo haviam me ensinado algumas lições valiosas sobre a vida deles – e sobre a minha também.
“Por que roubar? ”, eu perguntara. Marcelo me explicou: “como você, eu valorizo a minha vida”. E contou que roubava porque não podia sustentar a família vendendo bugigangas na praia. Ao contrário de muitos dos seus colegas, ele havia conseguido não se envolver com o tráfico de drogas, uma opção muito mais rentável. Explicou que todos os dias se mantinha na fronteira impossível entre duas leis repressivas – a lei das ruas e a lei do Estado. Ele tem razão de ter medo. De acordo com o instituto Igarapé, um think tank, quase metade dos cerca de 60.000 homicídios registrados no Brasil são causados por violência relacionada às drogas.
O medo de Marcelo de ser morto pela polícia só é menor que o medo das infames prisões brasileiras. Inchadas, com 160% de ocupação da capacidade instalada, as prisões no Brasil são de fato comandadas pelas facções criminosas. Os chefes das facções literalmente tomam as decisões, como no caso do ordenamento dos massacres nas prisões no começo de 2017, que deixaram 130 mortos – muitos decapitados, desmembrados e destripados. A rejeição de Marcelo ao tráfico de drogas por temer por sua segurança faz ainda mais sentido já que as condenações por tráfico são a principal causa de encarceramento no País.
É claro que saber mais sobre a vida de João e Marcelo não torna a experiência de ser assaltada menos perturbadora. Com muita frequência, o que começa como um roubo se torna uma tragédia violenta. Mesmo assim, ao olhar nos olhos deles, pude ver a face de tantas outras pessoas que conheci na minha vida. Mesmo sentindo medo e frustração, ao ser ameaçada por eles, esses sentimentos foram amenizados por um desejo de conexão. Minha mãe sempre me encorajou a me conectar ao sagrado de cada um. Ao trabalhar numa casa de detenção na Filadélfia, eu aprendi a fazer isso.
Nas ruas do Rio de Janeiro e nas prisões da Filadélfia, testemunhei os comportamentos mais surpreendentes em circunstâncias terríveis. Em situações de desespero e desigualdade extrema, já vi homens e mulheres forjando hábitos como humildade, compaixão, integridade e diálogo, todos pré-condições para a transformação pessoal e da sociedade. Esse tipo de comportamento, ao alcance de todos nós, é essencial para confrontarmos o sofrimento pessoal e comunitário. Todos devemos ouvir. Todos temos de aprender como ouvir. Aprender os nomes uns dos outros pode ser um começo.
___________________
Este artigo se publica nel marco de la campanha Instinto de Vida.